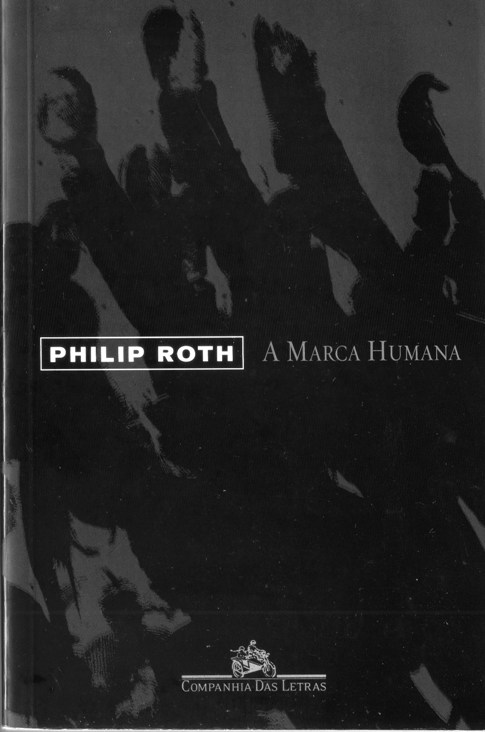E aí, meus queridos! Antes da gente começar os trabalhos de hoje, uma rápida pesquisa de opinião: o que vocês acham de abrir o espaço aqui para vocês, leitores, resenharem alguns livros ocasionalmente? Afinal, isso aqui é uma brincadeira e, até que se prove o contrário, todo mundo pode brincar. Digam aí o que vocês acham…
E aí, meus queridos! Antes da gente começar os trabalhos de hoje, uma rápida pesquisa de opinião: o que vocês acham de abrir o espaço aqui para vocês, leitores, resenharem alguns livros ocasionalmente? Afinal, isso aqui é uma brincadeira e, até que se prove o contrário, todo mundo pode brincar. Digam aí o que vocês acham…
Pois muito bem. O livro de hoje é um clássico da literatura (tá na tag), mas não pelo valor literário (e manual tem lá valor literário?), mas pela geração e pelo movimento que ele representou. Sim, chegou a vez de Steal This Book, do lendário Abbie Hoffman! Pra quem não sabe, Abbie era um militante político e um dos criadores do chamado movimento Yippie, que é mais ou menos como o movimento hippie, só que com propensão a fazer paradas radicais, como coquetéis molotovs e envenenamento das fontes de água. A verdade é que ele era loução. Diagnosticado como bipolar, a doença da moda e queridinha das novelas e do mundo da música norte-americana, ele participou ativamente nos protestos e atentados da década de 70, em especial durante a guerra do Vietnã, o Brasil X Itália de 82 lá dos Estados Unidos. Morreu em 89, enchendo a cara de boleta, suicida safado. Antes disso, porém, escreveu este livro, um manual da resistência Yippie.
Steal this book é, basicamente, um guia da malandragem americana — o que, como deve ser fácil de supor, não é nada malandra. Gringo não manja de falcatruas e pequenos golpes. É por isso que o nome da parada não é “jeitinho americano”. O livro é dividido em três partes, após um breve e incrivelmente coeso manifesto, ainda que pouco pé-no-chão.
“Survive!”, a primeira parte, dá dicas de como conseguir dinheiro, móveis, roupas, comidas, transporte e outras coisas de graça, e até como comprar, vender e plantar sua própria maconha (com ilustrações ensinando a enrolar o cigarrinho do capeta e tudo!). Claro que tudo ali é adaptado à realidade estadunidense da década de 70. Então dicas como “ofereça seu corpo para estudos médicos após a sua morte e você receberá 25 dólares após fazerem uma pequena tatuagem no seu dedão do pé” e “pegue carona nesses pontos aqui” hoje em dia não valem de mais nada. Ainda bem, eu acho.
“Fight!”, logo em seguida, ensina técnicas básicas de luta corporal (inclusive o invencível chute no saco), luta com armas brancas, fabricação de todo tipo de bombas e timers, imprensas clandestinas, rádios piratas (com ilustrações), roubo de lojas (a chamada mão leve), primeiros socorros para os amigos que caem e algumas pílulas de direito estadunidense pra você, cabeludo maluco, poder berrar “Eu conheço meus direitos!” quando o sargento Peçanha te meter o big stick. Alguns tópicos descritos nessa parte são ainda válidos para a sociedade de hoje, e inspiraram outros livros semelhantes, como o Anarchist Cookbook, talvez o primeiro e-book de todos os tempos. Fala sério hein, se você tinha acesso a internet com 16 anos, você leu esse livro.
 A última parte, intitulada “Liberate!”, é a menor de todas, e seus quatro capítulos, Fuck New York, Fuck Chicago, Fuck Los Angeles e Fuck San Francisco, dão dicas específicas sobre os tópicos de “Survive!” em cada uma dessas cidades, além da programação cultural, os buracos quentes de música e poesia underground. Meio sem graça se você não conhece os Estados Unidos, como eu. E nada é aproveitável hoje em dia. “Tem um poeta chamado fulano de tal nessa esquina”. Vai nessa, amigo, você vai encontrar no mínimo um McDonald’s.
A última parte, intitulada “Liberate!”, é a menor de todas, e seus quatro capítulos, Fuck New York, Fuck Chicago, Fuck Los Angeles e Fuck San Francisco, dão dicas específicas sobre os tópicos de “Survive!” em cada uma dessas cidades, além da programação cultural, os buracos quentes de música e poesia underground. Meio sem graça se você não conhece os Estados Unidos, como eu. E nada é aproveitável hoje em dia. “Tem um poeta chamado fulano de tal nessa esquina”. Vai nessa, amigo, você vai encontrar no mínimo um McDonald’s.
As ilustrações e fotos do livro são um capítulo a parte. Cartuns e quadrinhos do Gilbert Shelton, pai dos Fabulous Furry Freak Brothers, que de repente TODO MUNDO conhece, só porque o cara vai estar na Flip, ora essa (aliás, e o Lou Reed na Flip, hein? Precedente perigoso pra transformar a bagaça numa espécie de bienal do livro. Zero de literatura); fotos do próprio Abbie Hoffman e sua gangue, simulando algumas de suas dicas; e ilustrações para ensinar algumas das coisas mais complicadas no livro. Não se pode esquecer que ele foi escrito para este povo inteligente que é o norte-americano, em especial, o norte-americano adolescente hippie e drogado até as orelhas. Pensando bem, me admira que o livro tenha letras.
Encomendei esse livro da amiga Manuela que foi visitar os esteites, e já esperava algo meio thrash. Publicação de livro nos Estados Unidos é de chorar mesmo. Pólen Soft? Chamois Fine? Mesmo o horroroso Offset você vai ter dificuldade em encontrar. Lá, amigão, ou é papel de bíblia ou é papel de jornal, você escolhe. Nesse caso, papel jornal, aquele que começa a apresentar manchas após cinco meses na estante e te dá uma rinite gostosa pra ficar espirrando o resto do dia. Uma tal de editora Thunder’s Mouth Press publicou a obra. Aliás, chamar de editora é elogio. Nem a própria Martin Claret teria a sagacidade de fazer algo tão capenga. E impresso no Canadá, ainda por cima. Na certa, uma sweatshop de livros, se é que existe uma. Uma fonte horrorosa que eu não sei qual é e uma capa minimalista que a gente não sabe se é um projeto gráfico elaboradíssimo ou preguicite aguda. Ainda assim, vale pelo registro de ter um livro importante como esse na estante. Acho que aqui no Brasil ele não existe pra vender, então, se quiserem passar os olhos por um, já sabem.
Comentário final: 318 páginas de jornal. O som que faz quando você bate em alguém com ele é “Puf!”.