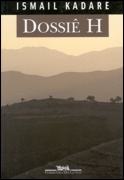Toda vez que eu faço um post sobre o Ismail Kadaré aqui nessa espelunca eu perco cinco fãs no Brasil e ganho vinte na Albânia. Até hoje tem gente de lá que entra aqui todo dia procurando pelos livros desse simpático sujeito triste que tem a responsabilidade moral de colocar seu diminuto país no mapa e na rota da literatura. O Jantar Errado é seu mais recente romance mas, veja bem, é de 2009. Contudo, não quero ninguém reclamando do delay de quatro anos. Primeiro, porque esse delay é bem menor que o delay do cinema da minha vila, que acredito estar exibindo Titanic por esses dias. Segundo, porque se o Brasil não tivesse Bernardo Joffily, vocês estariam chupando o dedo ou se contentando com traduções indiretas do francês. E tradução indireta é que nem usar duas camisinhas, vocês sabem. O nosso grande Joffily, que até onde sei, também é editor do portal Vermelho.org (a esquerda bem informada, diziam eles), talvez seja nosso único tradutor direto do albanês, mas a sorte dele é que a demanda também não é muita, porque a gente só conhece um escritor da Albânia. Então tá tudo certo.
Toda vez que eu faço um post sobre o Ismail Kadaré aqui nessa espelunca eu perco cinco fãs no Brasil e ganho vinte na Albânia. Até hoje tem gente de lá que entra aqui todo dia procurando pelos livros desse simpático sujeito triste que tem a responsabilidade moral de colocar seu diminuto país no mapa e na rota da literatura. O Jantar Errado é seu mais recente romance mas, veja bem, é de 2009. Contudo, não quero ninguém reclamando do delay de quatro anos. Primeiro, porque esse delay é bem menor que o delay do cinema da minha vila, que acredito estar exibindo Titanic por esses dias. Segundo, porque se o Brasil não tivesse Bernardo Joffily, vocês estariam chupando o dedo ou se contentando com traduções indiretas do francês. E tradução indireta é que nem usar duas camisinhas, vocês sabem. O nosso grande Joffily, que até onde sei, também é editor do portal Vermelho.org (a esquerda bem informada, diziam eles), talvez seja nosso único tradutor direto do albanês, mas a sorte dele é que a demanda também não é muita, porque a gente só conhece um escritor da Albânia. Então tá tudo certo.
Pois bem. De todos os livros que eu já li do Ismail Kadaré, O Jantar Errado foi o que eu menos gostei. E vejam que eu tenho a envergadura moral mesmo para espinafrar um auto que eu gosto e conheço muito. Quer dizer, para ser justo, li seis livros dele: Abril Despedaçado, Dossiê H, O Acidente, Uma Questão de Loucura e Vida, Jogo e Morte de Lul Mazrek. Então estou assim, no limiar entre conhecer pouco e conhecer muito da obra de um autor. Gosto de pensar que estou no caminho certo. Ok, então, se a gente pegar três desses livros – Dossiê H, o Acidente e O Jantar Errado – e colocá-los nessa ordem, cronológica (Abril Despedaçado é de antes desses, Uma Questão de Loucura não conta porque é autobiográfico e Lul Mazrek pode ser um ponto fora da curva, vai), dá pra perceber que o autor foi “evoluindo” numa linha de distanciamento do núcleo da narrativa em favor de um sobrevoo geral sobre toda a ambientação do romance. Esse livro é o ponto máximo desse movimento. A história começa falando de dois médicos, o Guramento Grande e o Guramento Pequeno. Os dois tem o mesmo sobrenome, e por causa disso os dois são alvo de comparação para qualquer coisa. Primeiro erro já tá aí. Que introduçãozinha sem vergonha, hein? Conheço gente que faz oficina de escrita criativa que bola coisa melhor do que isso. Bom, mas aí o Guramento Grande ganha mais destaque na história quando o exército nazista (ah tá, o livro se passa na segunda guerra, alright?) invade Girokastra, que é onde se passa o livro e também onde Kadaré nasceu (ele até cita uns parentes dele como figurantes no livro), e o general malvadão vai pra casa do Guramento pra um jantar, porque ele estudou na Alemanha e eles se conheceram lá. O exército prende uma porrada de gente logo de cara como represália por um levante de resistência contra os nazis na entrada da cidade e ele programa a execução de todos eles como forma de retaliação. E aí o Guramento pede pro general malvadão liberar os presos, e ele realmente libera. Só que ninguém sabe a custo de quê, e tampouco o que aconteceu nesse jantar misterioso.
 Pronto, a partir daí a história entra numa pira meio David Lynch de não explicar direito o que tá acontecendo e ainda conseguir a proeza de te deixar com cagaço da história. Porque aí tem chantagem, gente que não é gente, gente que já morreu e não sabe, enfim, toda a sorte de reviravoltas digna de um Revenge (vocês assistem a esse programa? Recomendo pra quem gosta de ver barraco e climão) que não necessariamente deixam o livro mais interessante de se ler. Isso porque existe algo na literatura do Kadaré que a torna extremamente dispersiva. Não ruim, apenas… dispersiva. Ela requer uma imersão maior na leitura, e ele cobra isso de você com passagens aparentemente insignificantes que se tornam maiores depois.
Pronto, a partir daí a história entra numa pira meio David Lynch de não explicar direito o que tá acontecendo e ainda conseguir a proeza de te deixar com cagaço da história. Porque aí tem chantagem, gente que não é gente, gente que já morreu e não sabe, enfim, toda a sorte de reviravoltas digna de um Revenge (vocês assistem a esse programa? Recomendo pra quem gosta de ver barraco e climão) que não necessariamente deixam o livro mais interessante de se ler. Isso porque existe algo na literatura do Kadaré que a torna extremamente dispersiva. Não ruim, apenas… dispersiva. Ela requer uma imersão maior na leitura, e ele cobra isso de você com passagens aparentemente insignificantes que se tornam maiores depois.
E agora vocês me perguntariam, “tá, Yuri, mas o que isso tem a ver com o lance do sobrevoo geral sobre o ambiente do romance?”. E eu respondo. Tem a ver que praticamente a primeira metade do livro é narrada de longe. O narrador onisciente passa pela vila fazendo um recorte dos melhores boatos que a população faz sobre a invasão, o jantar, os nazistas e tudo mais, e se constrói isso: um clima geral de vozes anônimas e aparentemente coletivas. Só que você, leitor esperto que lê o Livrada!, sabe que o recorte do narrador já é parcial por si só, e esse clima já está comprometido desde o começo, até porque não aparecem personagens com cara para confirmar esses boatos depois. O resultado, na minha modesta opinião, é porco, e, de novo, saberia encontrar gente em oficina de escrita criativa que bolaria um jeito melhor de retratar o clima da cidade.
Já pelo meio do livro você já flagra como ele vai acabar, se você é desses para quem o mistério é parte principal da experiência de ler um livro. E acho que pro Kadaré é mesmo parte principal, porque o cara discute muito pouca coisa além do romance. E isso é outra coisa que eu não gosto. Acho que ele já foi muito mais preocupado em mostrar as contradições e as idiossincrasias do povo e do país, e agora ele resolveu fazer um fast-pace mixuruca. Fast-pace mesmo, li em um ou dois dias. E o final em si, bem, não é lá essas coisas. É só mais um final triste de um livro do Kadaré que certamente não será sua obra mais lembrada.
Ainda assim, o livro, enquanto objeto, continua uma obra muito bonita graças a não-tão-caprichada-edição-da-Companhia-das-letras-que-ainda-assim-é-mais caprichada-que-qualquer-livro-que-você-acha-por-aí. Papel de boa gramatura, fonte Electra, a minha favorita e uma capa que ainda que não seja inteiramente do meu agrado, orna com a recente mudança no planejamento gráfico dos livros do autor e exatamente por isso me agrada.
Comentário final: 164 páginas de puuuuuuura boataria.