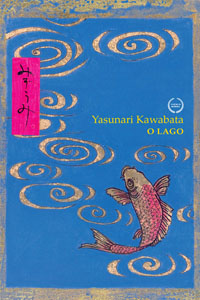Esse livro estava na minha mochila na última quarta feira, porque a Kariny, nossa traficante oficial de trufas de brigadeiro e coco, havia me pedido o livro emprestado para um trabalho da faculdade e o queridão aqui — adivinha! — só lembrou de trazer o livro umas duas ou três semanas mais tarde. Como nem adianta pedir desculpas, resolvi falar um pouco dele aqui no Livrada!. Quem sabe alguém consegue aproveitar alguma coisa para o trabalho da faculdade?
Esse livro estava na minha mochila na última quarta feira, porque a Kariny, nossa traficante oficial de trufas de brigadeiro e coco, havia me pedido o livro emprestado para um trabalho da faculdade e o queridão aqui — adivinha! — só lembrou de trazer o livro umas duas ou três semanas mais tarde. Como nem adianta pedir desculpas, resolvi falar um pouco dele aqui no Livrada!. Quem sabe alguém consegue aproveitar alguma coisa para o trabalho da faculdade?
Bom, Hiroshima é um clássico do jornalismo literário que teve, na minha humilde opinião, seu sucesso repartido entre 20% de talento e 80% de cagada. Aconteceu que o bicho achou lá seis pessoas que sobreviveram à bomba de Hiroshima. Bomba essa que, aliás, foi muito menos devastadora que a de Nagazaki, mas ficou muito mais famosa. Mistérios inexplicáveis, como o porquê do holocausto ser mais famoso que o genocídio dos armênios pelos turcos. Sei lá, talvez seja mesmo a propaganda a alma do negócio. De qualquer forma, lá foi o china (sim, John Hersey é Chinês e se mudou para os Estados Unidos lá com seus dez ou onze anos) colher o depoimento dos sobreviventes, os perrengues que passaram no dia em que a bomba caiu. Já começa aí a primeira cagada dele: a bomba foi jogada logo pela manhã, o que possibilitou aos sobreviventes uma memória marcante e indelével daquele dia inteiro, dando uma narrativa maior e uma experiência impactante.
A reportagem foi publicada numa edição especial da The New Yorker, aquela revista de gente inteligente, sem chamada na capa e cheia de piadinha sem graça que ninguém entende (mas aí, galera da New Yorker, se quiserem me contratar, faço umas charges aí, valeu?). É igual ler o livro, só que em Revista. Loko, né, truta? Agora a cagada mor do sujeito foi ter voltado aos mesmos personagens quarenta anos depois, conseguir encontrar todo mundo e ver como andavam a vida deles. Se não me engano, só um havia morrido, uma moça, de câncer. Primeiro porque até então eu, que não sou nenhum especialista em bomba atômica, achava, do alto de minha ingenuidade, que não havia sobrado viv’alma (coisa de poeta, né?) em Hiroshima. Pô, os sujeitos passam anos metendo o pau nessa bomba, que foi construída toda sob sigilo de governo, todo mundo se descabela quando a Coréia diz que tá fabricando, todo mundo tinha medo do Enéas porque ele queria fazer uma no Brasil e, enfim, a bomba atômica não mata todo mundo de uma cidadezinha japonesa? Acho que minha impressão sobre bombas atômicas vem inteiramente daquele maravilhoso filme “O dia de Amanhã” (The Day After), ou seja: a bomba cai, a imagem congela e por alguns segundos, dá pra ver a caveirinha de todo mundo.
Outro mérito de sua imensa cagada foi ter sobreviventes da bomba durarem mais de quarenta anos. E depois neguinho fica aí metendo o pau na energia nuclear. Pô, se um cara vive mais de quarenta anos depois de sobreviver a uma bomba atômica, dá pra ter mais usina nuclear tranquilamente, afinal de contas, viver até os sessenta ou setenta e poucos anos é uma meta digna na população brasileira (explicando a piada para os idiotas: É BRINCADEIRA, animal!). E os caras tão bem ainda por cima: ficaram famosos, fundaram empresas, ongs para combater a monstruosidade da bomba, etc. E depois dizem que é só brasileiro que gosta de celebridade instantânea. Tudo bem que não teve ninguém pousando para a Playboy, sob o título e a efígie do mestre Tom Jones: “Sexbomb, sexbomb, you’re my sex bomb!”, mas ainda assim rolou um shocksploitation em cima da galerinha.
 Vamos ao porquê desse livro ser estudado na faculdade de jornalismo. Bom, além do fato de estar escrito na capa que é “A mais importante reportagem do século XX”, e influenciar por isso a ementa dos professores, acho que ele é importante pra ensinar o jornalista a não largar o osso tão cedo e fazer o estudante maconheiro sem vergonha que se ele voltar à pauta tempos depois, ele pode muito bem fazer a mais importante reportagem do século também. Fora isso, sei lá, pode ser um livro bacana de ler, só depende de você e do seu saco pra tal leitura.
Vamos ao porquê desse livro ser estudado na faculdade de jornalismo. Bom, além do fato de estar escrito na capa que é “A mais importante reportagem do século XX”, e influenciar por isso a ementa dos professores, acho que ele é importante pra ensinar o jornalista a não largar o osso tão cedo e fazer o estudante maconheiro sem vergonha que se ele voltar à pauta tempos depois, ele pode muito bem fazer a mais importante reportagem do século também. Fora isso, sei lá, pode ser um livro bacana de ler, só depende de você e do seu saco pra tal leitura.
A coleção Jornalismo Literário da Companhia das Letras é uma das mais legais que já vi. Além de vários livros sobre o gênero (no qual não foram incluídos alguns como o A Mulher do Próximo, do Gay Talese), eles tem uma certa padronização de capas e diversas cores que dão um charme a mais. Sem imagem nenhuma na capa, afinal, jornalista curte mesmo é letrinhas, garrafais de preferência. Esse ainda conta com as fotos dos sobreviventes e um posfácio mais que elogioso sobre o livro, assinado pelo jornalista Matinas Suzuki Jr. No mais, papel pólen e fonte minion, padrão da editora para os livros de jornalismo literário.
Comentário final: 172 páginas pólen soft. Faz menos estrago que uma bomba atômica.