Olha a gente aqui de novo com mais um vídeo. Eu queria muito ler o Dias de Abandono também, mas essa tetralogia tá demais. Vocês, o que acham dela?
Clica na imagem pra ver o vídeo.
 Deeeeeeeesde os tempos mais primórdios, o Livrada taí! (taí, taí!). Criticando obras completas, educando os asceeeeeeeeclas das bibliotecaaas ôôô. Coeeeeetzee, Kadaré e Guimarães Rosa, Pedro Juan e Vargas Llosa (que lindo, que lindo!) Kadaré, Philip Roth e Villa-Matas, quem não gosta do Livrada é um puta filho das patas!
Deeeeeeeesde os tempos mais primórdios, o Livrada taí! (taí, taí!). Criticando obras completas, educando os asceeeeeeeeclas das bibliotecaaas ôôô. Coeeeeetzee, Kadaré e Guimarães Rosa, Pedro Juan e Vargas Llosa (que lindo, que lindo!) Kadaré, Philip Roth e Villa-Matas, quem não gosta do Livrada é um puta filho das patas!
É carnaval, meu povo! É daqui a três dias que o ano começa, daqui a nove meses que os bastardos nascem e daqui a dez anos que os soros-positivo batem as botas. Brasileiro se ferra o ano todo, oprimido pela máquina terceiromundista, sendo roubado pela frente e por trás, mas chega no carnaval… Globeleeeeeza! Ê mundo bão de acabá, mas vamo que vamo que o livro de hoje não vai se criticar sozinho. Opa, mentira, vai sim. Já viu a rasgação de seda que vem atrás de qualquer edição do Budapeste? Em qualquer outro livro, os elogios são do naipe de “Intelectual-do-qual-você-nunca-ouviu-falar”, “Gazeta de Moçoró”, “Mãe do autor”, “Blogueiro-virgem”. Mas rá! Chico Buarque não, negão. Aposto que rolou um leilão pra ver quem iria figurar nos comentários de capa e contra-capa, mas acabou que ganharam Caetano Veloso e José Saramago. Quase nada, né? Dois zés-ninguém, afinal. É esse tipo de coisa que me fazia levantar uma sobrancelha pra literatura do feio bonito, assim como o faço com qualquer unanimidade/vaca sagrada.
Mas, meus camaradinhas, eis que me rendi ao charme do velhote. Budapeste é mesmo um livro sensacional, e digo mais: em termos de ambição literária, poucos autores podem se gabar de ter chegado tão longe quanto Chico com esse livrinho.
Pra quem não tá ligado na história, aqui vai uma desde já malfadada tentativa de resumo da ópera (embora eu sei que não devesse porque acho que esse livro vai entrar na lista de alguns vestibulares esse ano, mas bora lá ser irresponsável e baixar as espectativas do sistema educacional): O protagonista é um ghost-writer chamado José Costa. Para quem não sabe, um ghost-writer é o cabôco que, em troca de muito dinheiro, escreve discurso pra político, autobiografia de alheios e outras paradas afim sem nunca levar o crédito por nada (“Ah, pára com isso, Yuri, todo mundo escreve suas próprias obras!”). Digamos então que é uma espécie de Peninha da literatura. De qualquer forma, parece que os ghost-writers se reúnem em congressos e encontros, uma parada bizarra para profissionais anônimos, eu sei, mas foi exatamente numa dessas, na Turquia se bem me lembro, que José Costa acaba parando em Budapeste, por causa de qualquer incidente com voo, essas bagunças de aeroporto. Lá ele se apaixona pela cidade, e na volta tudo é diferente: sua mulher já lhe parece mais distante, seu emprego pouco satisfatório e eis que surge um alemão sem pêlo no corpo pedindo uma autobiografia. O sujeito trava pela primeira vez na história do tedesco e termina de qualquer jeito antes de se mandar para umas férias de período indeterminado na Hungria, enquanto a esposa viaja pra Londres. E aí que conhece a Krista, a branquinha de Budapeste, que resolve ensinar a língua magiar pra ele. Só que enquanto isso, não é que o livro do alemão que ele escreveu e batizou de O Ginógrafo bomba nas Megastore da vida? É autógrafo pra lá, entrevista no Jô pra cá, um oba-oba dos infernos que começa a mexer com a vontade do Costa de querer ser reconhecido. E aí a vida do cara vira EL DESBARRANCADERO. Mais do que isso é Spoiler, menos do que isso é orelha e mais sério do que isso é redação de quinta-série. Então paremos por aí.
Primeiro: é de babar o jogo de espelhos que o autor constrói nesse livro: Rio de Janeiro/Budapeste, Esposa/Amante, português/húngaro (aliás, me expliquem. Se Búlgaro – Bulgária, por que não Húngaro – Hungária?), anonimato/fama, riqueza/pobreza, etc etc. E a maneira como esses dois mundos vão colidindo é qualquer coisa tão sensacional que se J.J. Abrahams tivesse pensado antes, Fringe não seria a porcaria ininteligível que é hoje.
Segundo: acho que como o Pedro Camacho na Tia Júlia e o Escrivinhador, Chico Buarque quis traçar planos ideais: o que seria o anonimato ideal para um ghost-writer? Qual seri a situação limítrofe que o empurraria para fora desse anonimato? O quanto se pode realmente dominar uma língua estrangeira, e em quanto tempo? Essas questões são levadas ao extremo em Budapeste, e quem é que não gosta de um extremismo por essas bandas? Quem, eu pergunto, quem não liga para extremismo na terra do azeite de dendê, da suruba, do Rio-quarenta-graus, da PM truculenta, do Impostômetro, da surra de bunda, do Pit-boy com orelha de couve-flor, de Otto Maria Carpeaux, de Sérgio Porto, da venda de cimento que aumenta 500% em ano de eleição?
Terceiro: o livro guarda mais ação, suspense e narrativa dinâmica que muito fast-pace de aeroporto que a La Selva se adianta pra colocar na vitrine. Do jeito que a gente anda mal das pernas na literatura nacional, se tivesse só uma narrativa irada já valeria a pena, mas é tão mais que isso que é ou não é pra ficar bolado com esse tal de Chico Buarque que, além de falar húngaro de verdade, ainda por cima tem olho azul. Deus, por que és tão injusto conosco?
Esse projeto gráfico da Companhia das Letras é feito para uma edição econômica, que reduz o preço do livro em uns bons 40%. Fonte janson pra caber mais, papel jornal porque mofo é para os fracos, sem orelha (impressionante o quanto uma orelha pode encarecer o preço final de um livro. E pra quê? Pra conservar as pontas e pagar pra um almofadinha qualquer jogar confete no livro que eles já estão tentando vender) e num formato um tanto maior que não vou medir a essa hora da madrugada. Mesmo assim, tem uma margem confortável na página e a capa é bem bonita, fazendo uma menção ao tal jogo de espelhos a que me referia. E é essa a edição que eu tenho e é essa a edição que eu recomendo pra vocês. Por quê? Porque eu não quero que vocês abram falência por causa desse blog e porque o Chico Buarque já tá rico o suficiente, ele não vai ligar se vocês comprarem a edição barateza mesmo. Fiquem com JAH e usem camisinha.
A propósito: CURTAM A PÁGINA DO LIVRADA NO FACEBOOK. Grato.
Comentário final: 113 páginas em papel jornal. Desses pra enrolar o livro num tubo e dar na cabeça das crianças dizendo “menino levado!”.
 Curtam a página do Livrada! no Facebook!
Curtam a página do Livrada! no Facebook!
Sempre falo isso no final de cada post, vamos tentar falar por primeiro pra ver se vocês prestam atenção, seus cabeças de vento! Rá, brincadeira, aqui ninguém é cabeça de vento, os leitores do Livrada! são sempre os mais espertos e os mais cheirosos.
Como vocês estão, gente? Susse no musse, de boa na lagoa, suave na nave, de leve na neve, tranquilo no quilo, de bobeira na ladeira, seguro no muro, beleza na mesa, jóia na jibóia, manso como um ganso? Espero que sim, porque aqui tá tudo aquele pandemônio nosso de cada dia. Mesmo assim, é sagrado: domingo sim, domingo não, cá estou eu para encher o seu cérebro de besteira ao mesmo tempo que exerço uma boa influência na sua formação. Tipo quando o Tim Maia começou a ler o Universo em Desencanto, ou quando o Jaime Palilo fugiu de casa e aquele mendigo ensinou ele a tocar gaita.
O livro de hoje é de uma autora que, se vocês são freqüentadores assíduos desse blog (vou fazer uns bottons, quem compra?), não é uma completa desconhecida: é a espanhola Rosa Montero, da qual já resenhei A História do Rei Transparente e História de Mulheres. Bom, ao contrário dos recém-supracitados, A Filha do Canibal é um romance mais limpo, no sentido de que não é histórico, não tem ensaio, não tem nada além de um puro e simples romance com uma dose considerável de suspense. Mentira, tem um pouquinhozinho dessas coisas que eu falei que não tinha, mas a julgar pelo exagero dessas doses na obra da Rosa, é quase como se não tivesse.
A história começa a partir de um mote totalmente banal, mas que abre marge pra toda sorte de maluquice que você desejar colocar num romance a partir disso: Lúcia Montero, uma mulher casada de meia idade, está pronta para viajar com o maridão no réveillon quando o fulano pede pra ir no banheiro. E pronto: o cara some dentro da casinha. A partir daí, a moça fica desesperada pra tentar descobrir o que aconteceu com o rapaz e acaba se envolvendo com uma gangue de malucos, a saber: Fortuna, um ex-toureiro e anarquista que preenche boa parte desse livro com suas historietas da guerra civil, e Adrián, um garotão pelo qual as cocotas se perdem e que parece meio burro.
Paralelo à investigação sobre o desaparecimento do maridão, Lúcia relembra sua vida, incluindo o fato que não lhe escapa que dá nome ao livro: seu pai comeu carne humana quando foi um dos únicos sobreviventes de uma expedição aí que já não lembro pra onde. Francamente, não sei qual é o problema. Eu sou uma daquelas pessoas que não tem remorso de comer boizinho, porquinho, galinha, churrasco de gatinho, enfim, se for gostoso, tô comendo. E isso incluiria, hipoteticamente, carne humana também. Mas enfim, pesquisei sobre isso, a parada é ilegal e não vou ficar falando disso porque logo vem um zé Mané querer me enquadrar no artigo 287.
 De qualquer jeito, o barato do livro é ver como a relação que Lúcia achava que ela tinha com o marido já havia mudado muito e que o sujeito já era praticamente um estranho pra ela. E aí vai umas ideias muito erradas de como a gente não conhece as pessoas mesmo e patati patatá, perdi o fio da meada e parei por aqui. Eu posso, eu que mando nessa porra. Posso até fazer um emoticon no meio do texto. 😀
De qualquer jeito, o barato do livro é ver como a relação que Lúcia achava que ela tinha com o marido já havia mudado muito e que o sujeito já era praticamente um estranho pra ela. E aí vai umas ideias muito erradas de como a gente não conhece as pessoas mesmo e patati patatá, perdi o fio da meada e parei por aqui. Eu posso, eu que mando nessa porra. Posso até fazer um emoticon no meio do texto. 😀
Liga não que o post de hoje é curtinho mesmo. É que lembro muito pouco desses livros que eu li, mas lembro que são bons o bastante para não serem esquecidos, e por isso faço questão de divulgá-los aqui para vocês. Entendam que, apesar de ser de ruim memória, é de bom coração. Fazê-los conhecer os livros queridos da minha estante é o mínimo que posso fazer por tantas coisas boas que eles me trouxeram.
Agora vamos falar desse projeto gráfico aí. Ó, a imagem que eu escolhi da capa tem um sentido muito legal. Não escolhi essa imagem só porque foi a única que eu achei na internet com um tamanho decente e com o padrão de cores pouco distorcido. Foi também por causa dessa cinta maravilhosa que a editora colocou. “Da autora de A Louca da Casa”! Sensacional, colocaram o título a partir de um dos maiores sucessos da autora que por acaso também é um dos livros mais difíceis dela. Isso é que eu chamo de valorizar a inteligência do leitor. Ponto pra editora. E o papel é pólen e a fonte é Minion! Mais dois pontos! Ê! Mas agora o livro perde todos os outros pontos. Primeiro por causa dessa capa horrorosa, uma espécie de Matisse-de-Ressaca numas cores suspeitas. E principalmente, e aqui vão desculpar a minha arbitrariedade, por causa da editora Ediouro. Veja, não é que eu odeie a Ediouro, mas esse nome e essa logo do bonequinho com um livro aberto provoca todo tipo de relação pavloviana na minha mente, porque os livros que eu precisava ler obrigado para a escola eram todos, ou em sua grande maioria, da Ediouro. E hoje quando eu pego um livro da Ediouro para ler por prazer, eu já penso que vai ter uma prova sobre o enredo. Brrrr, que calafrios me dá isso. Editoras: considerem fazer um selo propositalmente desagradável para os pimpolhos, para que eles não cresçam odiando vossa casa editorial. Enfim, só uma ideia. E com essa me despeço!
Comentário final: 333 páginas. Aprendi a tocar minha primeira música dos Beatles ontem. Isso porque não sou lá fã dos Beatles. Mas curti.
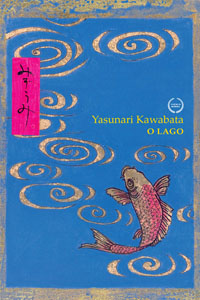 Cantemos felizes a canção do dia, hoje é quarta feira, dia de alegria! Crianças, hoje é um dia muito especial! Trata-se do casamento do amigo Cássio “Cabôco” Capiroba com a amiga Denise! Parabéns aos noivos! Por isso hoje eu vou escrever essa resenha rapidinho, porque estou saindo para dar uma palestra na faculdade e depois vamos comemorar na churrascaria e comer até perder a dignidade! O meu tipo ideal de programa: ver os amigos, abater algumas almas no curral, comer até o toba fazer bico e celebrar a vida, que pode ser muito boa, basta querer… ir até uma lotérica e fazer aquele joguinho campeão.
Cantemos felizes a canção do dia, hoje é quarta feira, dia de alegria! Crianças, hoje é um dia muito especial! Trata-se do casamento do amigo Cássio “Cabôco” Capiroba com a amiga Denise! Parabéns aos noivos! Por isso hoje eu vou escrever essa resenha rapidinho, porque estou saindo para dar uma palestra na faculdade e depois vamos comemorar na churrascaria e comer até perder a dignidade! O meu tipo ideal de programa: ver os amigos, abater algumas almas no curral, comer até o toba fazer bico e celebrar a vida, que pode ser muito boa, basta querer… ir até uma lotérica e fazer aquele joguinho campeão.
Passado o nariz-de-cera de praxe, vamos ao que interessa: literatura japonesa! Sabem, a literatura japonesa é muito parecida com a comida japonesa: é pequenininha, não sacia muito, é tudo meio-morto-meio-vivo, tem que ser muito delicado pra apreciar e é tida como coisa de gente fresca e/ou muito esquisita. Mas vamos mudar isso tudo! Vamos fazer as pessoas lerem mais esses “japas matadores de baleia”, como gosta de lembrar meu camarada Michel “Le Chackal” Melo (ele falaria agora “você é um camarada!”). A literatura japonesa pode ser muito rica se nós abrirmos nossos olhos para ela (“abrir os olhos”, hã? Hã?). Falo em abrir os olhos porque é preciso ver a literatura com os zóio certo. Explico um pouco sobre isso antes de tratarmos do livro em questão.
Como qualquer cultura distante da nossa, podemos encarar a coisa de duas formas: sob um véu de misticismo, achando aquilo tudo uma onda mutcho loka, uma viagem a outro planeta (e sério, os japoneses são o povo mais próximo do povo marciano que vocês vão ver, então contentem-se), e por isso, apreciar cada detalhe que nos distancia daquele universo. Ou, ao contrário, enxergar um autor japonês como enxergaríamos um autor ocidentalizado, como um mexicano desbotado. Isso! O japonês é um mexicano desbotado! Podem começar a circular essa frase pela internet dizendo que foi o Luis Fernando Verissimo que escreveu. O que queria dizer é que podemos tirar todo exotismo presente e encararmos aquilo como mais um livro. E, acho eu, a melhor das opções é a segunda, pois é só assim que você consegue se aprofundar na história sem ficar todo bobão olhando pros lados e tirando foto de tudo igual ao estereótipo do turista de camisa florida e bermuda branca. E claro, deixar-se maravilhar pelo universo totalmente diferente que está sendo apresentado a você, mas nunca deixar que isso barre você às portas da percepção do romance. Explicado então, continuemos.
O Lago é um romance do Kawabata publicado originalmente em 1954, no ano daquela Copa em que a gente tomou sacode nas quartas da Hungria. DA HUNGRIA! Pela madrugada, e depois reclamam do Dunga… Bom, a história fala de um ex-professor, o senhor Ginpei, que é, na melhor definição, um stalker. Ele acha que encontrar as gatinhas na rua é muito triste porque o encontro está já fadado a ser efêmero pela sua casualidade, então resolve colar no calcanhar das moças e sair bancando o sombra. A partir daí, Kawabata vai contando as histórias dessas moças seguidas, mostrando que o narrador onisciente é o stalker mais bem sucedido que existe. O desdobramento das histórias, na relação direta com o professor Ginpei, é de doer o coraçãozinho. Só lendo pra ver.
 Gosto nesse livro excepcionalmente do comecinho, quando ele vai a uma casa de banho e uma moça começa a lhe esfregar as orelhas, os pés, dá banho nele e o escambau. É uma parada relaxante só de ler. Acho que é isso que Kawabata queria com aquela corrente neo-sensorialista que ele defendeu no Japão, a tal da shinkankakuha. Ele realmente consegue te levar numa montanha russa de sentimentos, o mais próximo que nós, a macharada, vamos chegar da TPM.
Gosto nesse livro excepcionalmente do comecinho, quando ele vai a uma casa de banho e uma moça começa a lhe esfregar as orelhas, os pés, dá banho nele e o escambau. É uma parada relaxante só de ler. Acho que é isso que Kawabata queria com aquela corrente neo-sensorialista que ele defendeu no Japão, a tal da shinkankakuha. Ele realmente consegue te levar numa montanha russa de sentimentos, o mais próximo que nós, a macharada, vamos chegar da TPM.
Diz lá na orelha que Ginpei é muito diferente dos outros personagens do Kawabata por ser destruído e doentio, mas eu acho que, muito pelo contrário, ele é o típico personagem do autor. Primeiro, qual personagem do Kawabata não é doente da cabeça? Garanto que, se analisar bem analisado, o sujeito bate pino mesmo. Segundo, o Ginpei é maluco-beleza, gente. Inofensivo e sensível à presença feminina, como Eguchi, como o sujeito sem nome da Dançarina de Izu, enfim, Kawabatiano (hahaha mentira que eu falei isso, esquece).
O projetinho da Estação Liberdade é realmente gracioso. A coleção do Kawabata inteira é. Apesar do papel pólen soft e da fonte Gatineau, que não combina em nada com a folha, os livros tem um acabamento bom, capas a partir de imagens de Midori Hatanaka, feitas em folhas de ouro, ideograma com o título original na capa e na página 7, e uma tradução que erroneamente pensei que fosse grossa conosco ocidentais, ao me ver sem saber o que era um furoshiki. Mas foi só isso e, de resto, notas de rodapé esclarecedoras fazem a leitura muito mais familiar para quem tem olho redondo.
PS1: Japoneses do meu Brasil. Tudo bem que brinquei e fiz algumas piadas com vossa honorável etnia mas, por favor, sem mandar eu lavar o meu pescoço, isso aqui é só uma brincadeira e, se vocês olharem bem, não falta sacanagem pra ninguém por aqui. Gosto muito de vocês, viu?
PS2: Tô vendendo meu PS2, vem com memory card e uns 30 jogos. Tratar aqui.
PS3: Não quero comprar até que tenham inventado o Blu-Ray pirata.
PS4: Ainda dá tempo de enviar a foto da sua estante de livros para o bloglivrada@gmail.com Manda lá, cabra da peste!
PS5: Assinem o RSS! Ou sigam-me no twitter: @bloglivrada. Gracias.
Comentário final: 163 páginas offset. É como jogar betes com hashi, não vale a pena.
 Devo confessar que minhas expectativas sobre esse livro quase foram a sua ruína antes da hora. Foi preciso que eu parasse, refletisse sobre a intenção dele, para então começá-lo de novo e dessa vez, sim, entender a proposta da jovem escritora Chimamanda Adichie com Meio Sol Amarelo. A escritora foi minha porta de entrada para a literatura nigeriana (não posso fazer nada se resolveram publicar um livro do Chinua Achebe só no ano passado), e por isso, esperava que o livro não só me apresentasse o estilo da literatura do país, mas também a identidade nigeriana. E foi burrice minha, já deveria saber que literatura nenhuma tem obrigação a buscar esse tipo de coisa para o leitor.
Devo confessar que minhas expectativas sobre esse livro quase foram a sua ruína antes da hora. Foi preciso que eu parasse, refletisse sobre a intenção dele, para então começá-lo de novo e dessa vez, sim, entender a proposta da jovem escritora Chimamanda Adichie com Meio Sol Amarelo. A escritora foi minha porta de entrada para a literatura nigeriana (não posso fazer nada se resolveram publicar um livro do Chinua Achebe só no ano passado), e por isso, esperava que o livro não só me apresentasse o estilo da literatura do país, mas também a identidade nigeriana. E foi burrice minha, já deveria saber que literatura nenhuma tem obrigação a buscar esse tipo de coisa para o leitor.
Por outro lado, como J.M. Coetzee muito bem colocou na segunda palestra do romance Elizabeth Costello, o romance africano é escrito quase que exclusivamente para estrangeiros, visto que a população de leitores no continente é muito baixa. Sendo assim, o romancista africano deve construir, em todo livro, uma imagem da África que seja coerente com a idealização que nós, não-africamos, temos do continente, seja ela qual for. E não que Adichie não tenha feito isso. O problema (para mim, em um primeiro momento, pelo menos) era que esse não fosse o foco da obra.
Meio Sol Amarelo conta a história de um grupo de pessoas — mais especificamente duas irmãs, Olanna e Kainenne, que, no final da década de 60, separaram-se ideologicamente por conta da guerra civil que culminaria com a fundação de Biafra, o estado independente do povo ibo que existiu por três anos, até sua dissolução, em 1970. Enquanto o grupo, que é formado também por um jornalista inglês e um menino do interior do país, luta para sobreviver, rolam umas brigas familiares e um troca-troca de casais que eu achava que não tinha nada a ver com a história.
 Acontece que justamente a briga familiar e o troca-troca de casais é a verdadeira história do livro. A guerra civil foi o momento histórico que costurou todo o enredo e foi responsável pelo desfecho de cada um dos personagens, mas não era a intenção da escritora entrar em muitos detalhes sobre o episódio (embora haja sim, algumas discussões políticas). Para fazer um comparativo de fácil compreensão, eu estava irritado como um alemão que pega o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, para ler, e espera tomar conhecimento de cem anos de política nacional. Foi aí que percebi o porquê de Meio Sol Amarelo ser um Best-seller da língua inglesa (mais de 320 mil exemplares, se não me engano). Quem lia esse livro, o lia como um romance de amor em tempos difíceis, como um desses dramas de guerra ou algo assim. Um evento histórico que muda a vida de algumas pessoas. Mas nunca como uma análise sobre o episódio. E assim, entendida essa questão, preciso dizer que a leitura da moça não é capaz de pegar na veia.
Acontece que justamente a briga familiar e o troca-troca de casais é a verdadeira história do livro. A guerra civil foi o momento histórico que costurou todo o enredo e foi responsável pelo desfecho de cada um dos personagens, mas não era a intenção da escritora entrar em muitos detalhes sobre o episódio (embora haja sim, algumas discussões políticas). Para fazer um comparativo de fácil compreensão, eu estava irritado como um alemão que pega o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, para ler, e espera tomar conhecimento de cem anos de política nacional. Foi aí que percebi o porquê de Meio Sol Amarelo ser um Best-seller da língua inglesa (mais de 320 mil exemplares, se não me engano). Quem lia esse livro, o lia como um romance de amor em tempos difíceis, como um desses dramas de guerra ou algo assim. Um evento histórico que muda a vida de algumas pessoas. Mas nunca como uma análise sobre o episódio. E assim, entendida essa questão, preciso dizer que a leitura da moça não é capaz de pegar na veia.
Talvez esteja fazendo uma leitura muito simplória desse livro, mas acredite, já tentei fazer a leitura mais difícil dele também. Traduzido para 27 línguas, ganhador de alguns prêmios (entre eles o Orange Prize, que só dá prêmio pra esse tipo de livro, quase), uma belíssima publicação da Companhia das Letras que — pasmem vocês — não teve a capa feita pelo João Baptista da Costa Aguiar (foi uma artista chamada Mayumi Okuyama, que fez algumas outras capas, como o do livro A Outra Vida, do escritor Rodrigo Lacerda), tudo isso não fez a obra bater no coração. Mas tudo bem. Não deixa de ser uma boa leitura só porque não é especial.
Comentário final: Pesadas 502 páginas pólen soft. Quebra umas costelas facilmente.