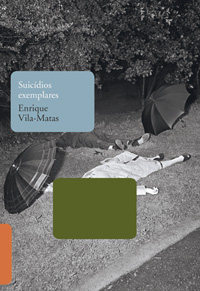Vê só como você tira um blog da miguxice, mas não tira a miguxice de um blog. Fico três semanas sem postar e já me vejo a dar satisfação para vocês no melhor estilo Marimoon da época do fotolog GOLD. Pra quem não era vivo nessa época, eu explico: ela pegava uma foto em que parecia que ela acidentalmente pagava peitinho mas não chegava de fato a pagar (o que só deixava a bagaça mais patética), depois metia um porrilhão de efeito de photoshop, uns arabescos, uma assinatura na foto e voilà: material masturbatório para tarados por moderninhas na era pré banda larga. E a legenda era a cereja do bolo: “Ai gente, tô tão sem foto, vou postar essa daqui só pra vocês não dizerem que não atualizo :**** ==^^==” ou sei lá que outros emoticons bizarros eram criados por essas mentes insanas. Graças ao bom Deus passei alheio a todo esse bafafá, dedicava meus dias e minhas noites a tocar guitarra, e nada mais.
Vê só como você tira um blog da miguxice, mas não tira a miguxice de um blog. Fico três semanas sem postar e já me vejo a dar satisfação para vocês no melhor estilo Marimoon da época do fotolog GOLD. Pra quem não era vivo nessa época, eu explico: ela pegava uma foto em que parecia que ela acidentalmente pagava peitinho mas não chegava de fato a pagar (o que só deixava a bagaça mais patética), depois metia um porrilhão de efeito de photoshop, uns arabescos, uma assinatura na foto e voilà: material masturbatório para tarados por moderninhas na era pré banda larga. E a legenda era a cereja do bolo: “Ai gente, tô tão sem foto, vou postar essa daqui só pra vocês não dizerem que não atualizo :**** ==^^==” ou sei lá que outros emoticons bizarros eram criados por essas mentes insanas. Graças ao bom Deus passei alheio a todo esse bafafá, dedicava meus dias e minhas noites a tocar guitarra, e nada mais.
Pois bem, cá estou eu como uma Marimoon sem vergonha, postando qualquer livrinho pra não dizer que não ligo mais pra vocês *smack* fofuras. Rá, mentira! Um Diário Russo, de John Steinbeck e Robert Capa é um livraço, e uma leitura agradabilíssima. Vamos a ele, pois bem.
Antes que certas *cof cof* pessoas (é, você mesmo) queiram desistir de ler por achar que Um Diário Russo é um livro reportagem, já digo que não é nada disso. Ainda que Steinbeck e Capa tenham lá seus pezinhos metidos no jornalismo (hey, naquela época, quem é que não tinha?), há de se distinguir um livro reportagem de um diário de viagem e, mesmo que o diário tenha uma certa linguagem jornalística e termine por desvendar certas verdades a olhos não acostumados com a realidade soviética, nunca foi a intenção dos autores fazer “um retrato DEFINITIVO da união soviética no começo da guerra fria” ou qualquer outra etiqueta que tentem colocar na capa desse livro em edições futuras para tentar vendê-lo para os war freaks, esse povo tarado num uniforme nazista, num panzer division, num operação Valquíria, num Lili Marlene, enfim, esse povo que, se tivesse pacote da NET só com o History Channel, fazia o favor ao próprio orçamento de cortar todos os outros canais.
Um Diário Russo nasceu principalmente de uma curiosidade discutida num balcão de bar, esse antro místico que as pessoas têm em alta consideração, como um berçário de boas ideias, um mangue da criatividade. Capa e Steinbeck estavam no bar e comentaram com o barman, esse fast-food da psiquiatria, que as notícias que chegavam da Rússia diziam respeito aos planos de Stálin e suas relações com as amadas bombas atômicas, e que nunca as pessoas ficavam sabendo como tavam vinvendo os russos, aquele povo exportador de belas tenistas e políticos engraçados. Decidiram então começar a se mexer para ir para lá registrar tudo e fazer, de acordo com eles, não o retrato russo, mas um dos possíveis retratos.
Partem então para a terra proto-inimiga, aquela que tava ainda dentro dos conformes de Yalta, ninguém tava ligando muito, ainda não tinha rolado aquela não-eleição que emputeceu os norte-americanos (e se tem uma coisa que deixa esse povo tiririca da silva é não fazer eleição). A realidade é cruel: a narrativa de Steinbeck sobre o avião caindo aos pedaços que pegaram na escala na Dinamarca (ou Suécia, Noruega, não lembro… algum desses países com sexo explícito em filme de Sessão da Tarde) faz você se sentir um lorde por viajar de Webjet e um fresco por achar que vai morrer a cada pane mecânica que o avião dá. A situação sempre foi precária na Rússia, e em épocas comunistas, imagine só! Se em Cuba, onde não há dinheiro pra nada, a vida já é ruim, imagine num lugar onde há dinheiro mas todo dinheiro precisa ser direcionado pra construir bomba. Antes que a última árvore fosse cortada e o último urânio fosse enriquecido e o homem branco percebesse que as bombas não podem ser comidas (a não ser as bombas de chocolate), essa insensatez começou a tomar outro rumo, ainda bem. Mas até então, era o jeitinho brasileiro dominando tudo. Pior, era o jeitinho russo, o jeitinho desse povo que não dá jeitinho nem pra construir uns carros mais decentes.
 Não foi só na Rússia, porém, que os autores ficaram. Visitaram a Ucrânia, que revelou ser um nascedouro de gente trabalhadora, e a Geórgia, onde disseram que os georgianos eram todos poetas, cantores, amantes insaciáveis e etc. Sei não, hein, acho que rolou um jabá lá na Geórgia… Enfim, imagine que o livro foi legal para diferenciar essa gente diferenciada, pros americanos burros, que acham que soviético é tudo a mesma lata um do outro.
Não foi só na Rússia, porém, que os autores ficaram. Visitaram a Ucrânia, que revelou ser um nascedouro de gente trabalhadora, e a Geórgia, onde disseram que os georgianos eram todos poetas, cantores, amantes insaciáveis e etc. Sei não, hein, acho que rolou um jabá lá na Geórgia… Enfim, imagine que o livro foi legal para diferenciar essa gente diferenciada, pros americanos burros, que acham que soviético é tudo a mesma lata um do outro.
A escrita de Steinbeck é primorosa, e quem conhece sabe. Ele escreve de um jeito muito fluído e altamente informativo. Tem um estilo mais denso que o de Capa, por exemplo, que se preocupa mais em fazer uma graça pro leitor. Nesse livro, aliás, Capa só escreve em um capítulo, se justificando pelo fato de passar duas horas trancado no banheiro, para o desespero da bexiga de seu companheiro, entre outras coisas de que Steinbeck reclama sobre ele ao longo do livro.
Talvez seja esse um dos pontos não-intencionais do livro dos mais interessantes: a figura de Capa sob o filtro do olhar de seu camarada John Steinbeck. É difícil obter esse tipo de coisa, e é como uma corrente: no livro de Steinbeck você sabe de Capa, nos de Capa você sabe um pouco mais sobre Hemingway, e assim por diante. Bom, eu tenho uma grande admiração pela vida e obra do Robert Capa, então esse livro me pegou por causa disso também.
Um Diário Russo é, claro, todo recheado com as fotos do fotógrafo húngaro (aliás, por que a Bulgária chama Bulgária e a Hungria não chama Hungária?), que são todas matadoras. Isso faz com que a leitura do livro, que parece grande, se torne mais rápida do que se pensa. Eu terminei ele em dois ou três dias, então é porque o lance é bom.
Essa edição da Cosacnaify é primorosa! Queria ter comprado esse livro antes, mas na edição antiga custava uns 90 reais. Ainda bem que fizeram essa versão nova, com papel offset (dessa vez nem reclamo, se é pra abaixar o preço…), e uma capa diferente, com uma foto do Capa. O que faz muito mais sentido do que uma versão estilizada de uma das votos, vetorizada e impressa numa parada meio Matisse encontra Picasso da fase escrota em azul e preto. Serviu também pra ornar com o livro do Capa que estavam lançando na época, ficou legal na estante. Fonte Freight e capa dura, pra fazer maldade mesmo! Como diria Clint Eastwood em boa parte do Gran Torino: Grrrrrr….
Comentário Final: 330 páginas em offset e capa dura. Mais duro que a cara dura do Palocci.
Ps: Feliz dia dos namorados para todos. Não importa se você é hetero, gay, bissexual, namora dois ao mesmo tempo, é zoófilo, todo mundo tem o direito de, hoje, levar o ser amado pra churrascaria e comer até cair.