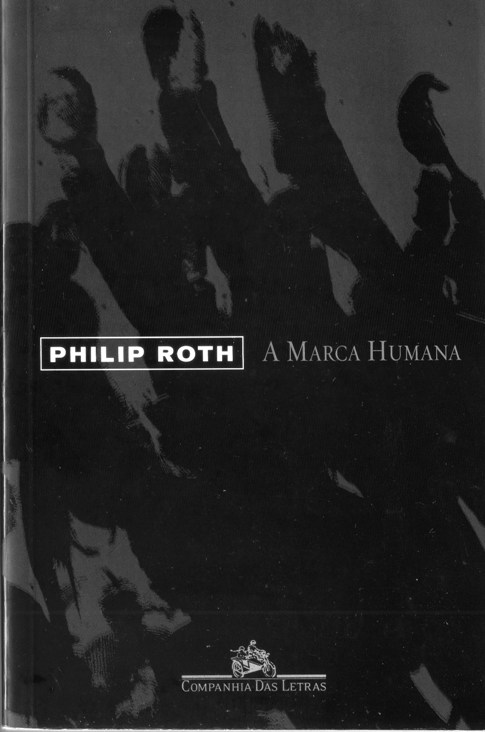Mia Couto, caralho! Tava demorando para esse mestre aparecer por aqui. E justamente com qual livro senão o meu favorito em língua portuguesa (depois do Grande Sertão, lógico): Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.
Mia Couto, caralho! Tava demorando para esse mestre aparecer por aqui. E justamente com qual livro senão o meu favorito em língua portuguesa (depois do Grande Sertão, lógico): Um rio chamado tempo, uma casa chamada terra.
Conheci o autor através do amigo Cássio (compadre meu Quelemém), que emprestou O outro pé da Sereia para a Carlinha, que sempre foi muito mais destemida para literatura do que eu (do tipo “Ah, acho que vou começar a ler Górki”), e ganhei o livro de Natal do pai numa festinha na Fnac. Vou falar que fiquei com um pé atrás com esse título, que soa como a) livro de poesia (ugh!) b) livro psicografado pelo espírito Lucius (ou coisa que o valha) c) livro arrogante com nome arrogante, do tipo “O Pêndulo de Foucault” d) livro de escritor que publica livro independente e vende na feirinha (“ganha um cd com mantras para ouvir enquanto lê, bicho!”). Claro que o livro no fim das contas não era nada parecido com o que eu achava e isso me ensinou a não ter preconceito com título de livro (mais ou menos, ainda não tive coragem de ler O Segundo Sexo).
Um rio chamado tempo conta a estória de Marianinho e sua família, e parte da ocasião da morte de seu avô Dito Mariano em Luar-do-Chão, uma daquelas aldeias onde a única opção de lazer deve ser o barranqueio. Voltando à aldeia, o neto reencontra a família de tipos engraçados e nomes mais engraçados ainda: os tios Abstinêncio, Admirança e Ultímio, a avó Dulcineusa, sem falar no seu pai, Fulano Malta. No meio do velório e de tanta coisa esquisita tida como tradição local, como tirar os telhados da sala para o velório, Marianinho começa a receber cartas do avô morto. Aí entra um viés policial que, até pouco tempo atrás (antes de Antes de nascer o mundo, seu último livro), era uma característica corrente de sua obra. O mistério a ser resolvido, esse, muito mais num lance Miss Marple, faz de uma ocasião chata pra caralho (afinal, velório só era legal pro Nelson Rodrigues) no cu do mundo um thriller de suspense familiar eletrizante (maldita Sessão da Tarde e os vícios que ela deixou na nossa escrita).
Vi uma entrevista com o Mia Couto uma vez na televisão junto com o José Eduardo Agualusa, onde ele falava que a molecada de hoje quer muito escrever mas quer fazer literatura só de palavras bonitas. Ele nos lembrava da importância de se ter uma história para contar. E o Mia Couto tem história pra contar sim, hein? (Menos naquele Venenos de Deus, Remédios do Diabo) A história não te larga e você, por sua vez, não larga a história. Eu li esse livro em dois dias e fiquei amarradão.
 Mas, além da boa história para contar, Mia Couto também SABE escrever (com tudo maiúsculo). Sério, rapeize, esse moçambicano é a melhor coisa da língua portuguesa desde Guimarães Rosa. E não é só a prosa fluida e a musicalidade de seus parágrafos, é tudo: seu estilo híbrido, seus neologismos que brotam da terra e suas pequenas filosofias que são despejadas de torneirinha no livro (se bem que às vezes ele não sabe a hora de fechá-la um pouco). Eu geralmente me limito a resenhar os livros, mas dessa vez vou abrir uma exceção e dizer que se você gosta de boa literatura e de linguagens diferentes, você precisa ler Mia Couto. Se você for cagalhão como eu fui quando peguei esse livro pra ler, sugiro uma coisa: Vá numa livraria, pegue esse livro para folhear e leia as frases que abrem os capítulos, de autoria do autor: “O mundo já não era um lugar de viver. Agora, já nem de morrer é”, “A mãe é eterna, o pai é imortal”, “Se eu não creio em Deus? Lá crer, creio. Mas acreditar, eu acredito é no diabo”, etc, etc. Amigo, só um retardado mental não percebe a preciosidade que existe por trás da escolha de palavras para compor esses ditos e filosofiazinhas.
Mas, além da boa história para contar, Mia Couto também SABE escrever (com tudo maiúsculo). Sério, rapeize, esse moçambicano é a melhor coisa da língua portuguesa desde Guimarães Rosa. E não é só a prosa fluida e a musicalidade de seus parágrafos, é tudo: seu estilo híbrido, seus neologismos que brotam da terra e suas pequenas filosofias que são despejadas de torneirinha no livro (se bem que às vezes ele não sabe a hora de fechá-la um pouco). Eu geralmente me limito a resenhar os livros, mas dessa vez vou abrir uma exceção e dizer que se você gosta de boa literatura e de linguagens diferentes, você precisa ler Mia Couto. Se você for cagalhão como eu fui quando peguei esse livro pra ler, sugiro uma coisa: Vá numa livraria, pegue esse livro para folhear e leia as frases que abrem os capítulos, de autoria do autor: “O mundo já não era um lugar de viver. Agora, já nem de morrer é”, “A mãe é eterna, o pai é imortal”, “Se eu não creio em Deus? Lá crer, creio. Mas acreditar, eu acredito é no diabo”, etc, etc. Amigo, só um retardado mental não percebe a preciosidade que existe por trás da escolha de palavras para compor esses ditos e filosofiazinhas.
E o projeto gráfico da Companhia das letras hein? Sen-sa-c-i-on-al (porra, preciso reaprender a separar sílabas) Uma fonte especial para os títulos das obras, capas coloridas com desenhos em silhuetas translúcidas, porra, fantástico. Só uma ressalva, que é coisa de gente chata eu sei, mas o nome do autor ficou na metade da lateral ao invés de ficar no topo como todos os outros livros. Damm, nigga! No mais, tudo um pitéu: fonte maneira, papel maneiro e o principal: falta de economia com papel. Acho ótimo deixar sempre o título do capítulo numa página a parte, sempre no lado ímpar, coisa e tal. Mostra que você tá nessa pra fazer algo que valha a pena os quarenta e cacetada reais que você gasta no livro.
Comentário final: 262 páginas em papel pólen soft. Pimba!
PS importante: Porra, como esqueci de colocar isso aqui? Eu entrevistei o Mia Couto para a Gazeta, sobre seu livro mais recente “Antes de nascer o mundo”. A entrevista está aqui.