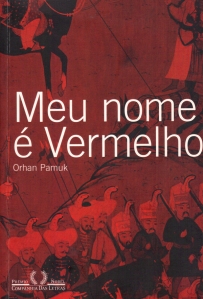 Hoje é aniversário da minha gatinha, mas antes da festa, o Livrada! precisa continuar. A Carlinha tem alguns escritores favoritos, pelos quais eu partilho o gosto na maioria das vezes. Mas o Pamuk, acredito, talvez seja seu escritor favorito de língua estrangeira, e depois de ler três livros dele e de muita insistência, ela finalmente me convenceu a pegar uma obra deste turco que é prêmio Nobel de literatura de 2006.
Hoje é aniversário da minha gatinha, mas antes da festa, o Livrada! precisa continuar. A Carlinha tem alguns escritores favoritos, pelos quais eu partilho o gosto na maioria das vezes. Mas o Pamuk, acredito, talvez seja seu escritor favorito de língua estrangeira, e depois de ler três livros dele e de muita insistência, ela finalmente me convenceu a pegar uma obra deste turco que é prêmio Nobel de literatura de 2006.
Meu Nome é Vermelho passou na frente de Neve, que era minha segunda opção, pela proximidade do tema comigo. Ora, muita gente aqui não me conhece pessoalmente, mas a verdade é que eu gosto muito de desenhar e venho de uma família de desenhistas, pintores, projetistas e outros profissionais que trabalham de lápis e prancheta figurativamente sobre um plano neutro. E o lance desse romance está justamente no desenho, então resolvi verificar o que esse gajo turco sabe desses lances.
Pois muito bem, muito bem bem bem. Meu Nome é Vermelho é um livro sobre desenho, mas é uma daquelas histórias específicas rodeadas por universalismos. Temos mistérios, crimes, amor, drama, morte, vilões, mocinhas, heróis, lendas, fábulas, e, é claro, temos a questão do desenho. O argumento principal gira em torno de um polêmico livro que o sultão não-sei-das-quantas ordena secretamente a seus melhores desenhistas para dar de presente para a comitiva veneziana que pretende visitar Istambul nos próximos anos. Agora, o desenho segundo o Islã era uma coisa considerada artisticamente tosca pelos então novos padrões renascentistas que estavam ficando na moda, cheios de sombra, perspectiva e detalhes mínimos, tipo pelanca de pescoço e sobrancelha mal aparada. Isso era então uma afronta às leis de Deus para os turcos, como qualquer arte figurativa, por colocar o homem no centro das atenções e elevar o artista à condição de criador, como o próprio Deus. Ora essa, onde já se viu. Eu sei, eu sei, vocês estão pensando: “Obviamente esses sujeitos não pensariam assim se conhecessem a obra do inominável Romero Britto”, não é verdade? Na verdade também não, porque a arte islâmica tampouco contempla o estilo de um artista e a assinatura como elementos desejáveis. O lance é todo mundo fazer o mesmo tipo de bonequinho e o mesmo tipo de paisagem sempre. Resumindo: a arte islâmica era a arte do ClipArt, e vocês podem ficar o resto do dia discutindo se isso é arte ou artesanato, mas nós temos uma sinopse para desenvolver antes de falar do livro (sempre que tiverem dúvidas sobre o estilo de desenho a que me refiro, podem conferir essa capa, que tem ilustrações que evidenciam bem a questão). Bom, nessa encomenda perigosa, quatro homens, discípulos de Mestre Osman trabalham secretamente: Borboleta, Oliva, Cegonha e Elegante. É, pensei a mesma coisa: parece um elenco da Malhação turca. É quando Elegante é brutalmente assassinado por um dos outros três, e precisamos desvendar esse mistério. Ao mesmo tempo, volta à cidade o Negro, um homem que trabalhou fazendo biscate pelo mundo e pensando na doce Shekure, que tinha apenas 12 anos quando ele a deixou em Istambul. Pedofilia? Talvez, mas não vamos julgar. Shekure agora é uma moça casada e muito provavelmente viúva, já que seu marido foi pra guerra e nunca mais voltou, e seu cunhado Hassan, irmão do marido desaparecido, vive dando em cima da moçoila, mãe solteira de dois e abrigada na casa do pai, o chamado Tio (é pai mas é tio, sacou? Nem eu), que comanda o projeto. O Negro então começa a investigar o assassinato e ver se ainda dá pra recuperar o amor perdido.
 Basicamente, essa é a história, permeada, é claro, por muitas aulas de pintura e desenho, contos exemplares sobre estilo e assinatura e sobre a passagem do tempo para o artista, que fica invariavelmente cego no final da vida. Agora, o discurso do livro é muito interessante. Nada menos do que 21 narradores contam esse causo para você, entre eles o cadáver do Elegante, Negro, Shekure, o Tio, Mestre Osman e o resto dos artistas da Malhação Turca, além de outros personagens que são narrados nas tabernas e nas cafeterias onde os sátiros se reúnem, o que dá uma palpabilidade ao zeitgeist do romance. O recurso de múltiplos narradores, entretanto, serve a um propósito muito maior: evidenciar o poder do livro e a posição do leitor.
Basicamente, essa é a história, permeada, é claro, por muitas aulas de pintura e desenho, contos exemplares sobre estilo e assinatura e sobre a passagem do tempo para o artista, que fica invariavelmente cego no final da vida. Agora, o discurso do livro é muito interessante. Nada menos do que 21 narradores contam esse causo para você, entre eles o cadáver do Elegante, Negro, Shekure, o Tio, Mestre Osman e o resto dos artistas da Malhação Turca, além de outros personagens que são narrados nas tabernas e nas cafeterias onde os sátiros se reúnem, o que dá uma palpabilidade ao zeitgeist do romance. O recurso de múltiplos narradores, entretanto, serve a um propósito muito maior: evidenciar o poder do livro e a posição do leitor.
Isso porque um dos narradores é o Assassino, que se apresenta assim, como assassino, embora narre outros capítulos sob sua verdadeira identidade, guardada em segredo. Aí você vê que nenhum diretor em sã consciência pensaria em adaptar esse livro para o cinema, porque só o livro permite que um assassino se comunique diretamente com o leitor sob uma proteção impenetrável que é a falta de voz literária. Sim, porque todos eles falam com a mesma voz de escritor (algo muito fácil quando o autor é um só, Pamuk), uma camuflagem perfeita. E, ao mesmo tempo, todos narram para você, leitor, evidenciando algo que é sugerido pelas histórias dos sátiros: não há história sem leitor e muito menos há poder narrativo no discurso sem ele também. Isso, é claro, corrobora com a submissão do artista com o objeto da obra e seu futuro apreciador segundo a fé islâmica, então tudo se trata de uma adaptação estilística ao pensamento.
A trama de assassinato, mais a briga de Negro por Shekure, defendendo-a do possessivo Hassan, e as ordens irrefutáveis do sultão, tudo isso dá sequência não só à tradição da literatura ocidental como também da oriental. A Turquia, como vocês devem saber, é um país meio esquizofrênico nesse lance de ocidente e oriente, e coube ao Pamuk escolher temas interseccionais aos dois polos horizontais do mundo para fazer algo em favor da Turquia: um país que fala a todos os outros sem tomar para si tons exóticos e canastrões, como vemos tanto por aí. Tudo parece natural porque tudo, de fato, o é.
Acho que existem muitas outras coisas para falar sobre esse livro, mas resolvi me deter nesse ponto em particular para mostrar como é possível ser inventivo e usar a narrativa e o suporte do livro ao seu favor. Muito se fala em reinvenções linguísticas, saltos narrativos e etc e tal, mas pouca gente pensa em reformular a estrutura do romance em si. O Pamuk ganhou muitos pontos comigo nessa, e pretendo lê-lo de novo por causa disso. Espero que vocês também o façam.
Ps: Feliz aniversário, Carlinha!
Comentário final: 534 páginas em papel pólen soft. Fratura na cabeça do Elegante Efêndi.









