Nem vou falar nada. Só assistam.
Tem que clicar na imagem pra abir o vídeo. Dã.
Estamos de volta com mais um vídeo, e dessa vez com um livraço do Solomon. Em O Demônio do Meio-Dia, o autor explora os vários aspectos da depressão, essa doença tão misteriosa e tão presente nessa vida loka. E como as pessoas reclamaram muito da minha barba, dei uma repaginada no visual e fiquei bonitão. Então clica no bonitão aí embaixo.
 Sei que todo mundo vibra de emoção por aqui quando eu começo a falar de um clássico moderno da literatura. Quer dizer, saber, eu não sei. Eu suponho, já que geralmente são os comentários mais alardeados sobre o assunto, e não vejo ninguém vibrando por livros mais desconhecidos ou clássicos clássicos, desses que na grafia do português original é cheio de acento onde não deve. Bom, clássicos modernos são esses livros que todo mundo gosta de ler mas não necessariamente são tão bons assim. Alguns gostam mais e enchem de porrada quem fala mal e outros gostam menos e passam a vida esgueirando-se pelos cantos para não ser apontado e escurraçado na rua como “o sujeito que falou mal de Camus” ou “aquele cara que não curte Cortázar” e por aí vai. Fato é que é muito difícil identificar um clássico moderno como tal porque não há outro parâmetro a não ser o gosto popular e o quanto ele discutido em sala de aula por crianças que não têm idade para lê-lo. Mas, acredito eu, que Hemingway seja um desses autores clássicos modernos que alimentam a alma de pessoas intelectualmente díspares e frequentemente pelas mesmas razões.
Sei que todo mundo vibra de emoção por aqui quando eu começo a falar de um clássico moderno da literatura. Quer dizer, saber, eu não sei. Eu suponho, já que geralmente são os comentários mais alardeados sobre o assunto, e não vejo ninguém vibrando por livros mais desconhecidos ou clássicos clássicos, desses que na grafia do português original é cheio de acento onde não deve. Bom, clássicos modernos são esses livros que todo mundo gosta de ler mas não necessariamente são tão bons assim. Alguns gostam mais e enchem de porrada quem fala mal e outros gostam menos e passam a vida esgueirando-se pelos cantos para não ser apontado e escurraçado na rua como “o sujeito que falou mal de Camus” ou “aquele cara que não curte Cortázar” e por aí vai. Fato é que é muito difícil identificar um clássico moderno como tal porque não há outro parâmetro a não ser o gosto popular e o quanto ele discutido em sala de aula por crianças que não têm idade para lê-lo. Mas, acredito eu, que Hemingway seja um desses autores clássicos modernos que alimentam a alma de pessoas intelectualmente díspares e frequentemente pelas mesmas razões.
Senão vejamos: Adeus às Armas foi publicado em 1929 e, salvo engano, foi um dos primeiros livros ambientados na Primeira Guerra Mundial, o que já mostra um delay grande da literatura em relação a outras artes representativas, porque o que surgiu de filme sobre o onze de setembro uns dois ou três anos depois não tá no gibi. Mas onde é que eu estava? Ah sim. Bom, Hemingway, no fim da Primeira Guerra, era um jovem mancebo de 17 anos, mas isso não o impediu de se alistar como motorista de ambulância na Itália. Coincidentemente, olha só, o protagonista do livro também é um americano motorista de ambulância na Itália a serviço dos italianos. Frederic Henry é um cara jovem e inacreditavelmente neutro para um protagonista. Não dá pra saber porcaria nenhuma sobre a personalidade dele pelas atitudes que ele tem, e isso não necessariamente quer dizer que ele seja imprevisível ou apático, apenas que o autor não teve muita preocupação com isso. Os personagens do Hemingway, de uma maneira geral, são muito rasos e levados pelos acontecimentos. Quase sempre têm um único traço de personalidade que é repetido ao extremo, mas não dá pra culpar o cara por isso porque primeiro que construir um bom personagem é uma tarefa tão difícil que tem escritor por aí que fica famoso só por causa disso sendo que a história em si é uma porcaria, e segundo que ele se interessa mesmo é em contar história.
 E essa história, que se passa na Primeira Guerra Mundial e tem como protagonista um motorista de ambulância americano a serviço do exército italiano chamado Frederic Henry, fala de um caso de amor entre esse cara em específico e uma enfermeira escocesa louca de pedra chamada Catherine Barkley depois que ele é ferido em campo de batalha. É basicamente isso, não tem muito pra contar da história além desse resumo básico. O que podemos dizer é que eles tentam viver juntos mas esse é um mundo enlouquecido pela guerra em que as pessoas fuzilam traidores que recuam e todos estão obcecados pelo poder e a Itália tá numa pior nessa guerra aí e precisando desesperadamente de ajuda e pra eles só resta a fuga para Suíça. E aí nesse parágrafo já coloquei mais spoiler do que vocês gostariam e não avisei que tem spoiler porque senão vocês ficam mal acostumados. Cresçam.
E essa história, que se passa na Primeira Guerra Mundial e tem como protagonista um motorista de ambulância americano a serviço do exército italiano chamado Frederic Henry, fala de um caso de amor entre esse cara em específico e uma enfermeira escocesa louca de pedra chamada Catherine Barkley depois que ele é ferido em campo de batalha. É basicamente isso, não tem muito pra contar da história além desse resumo básico. O que podemos dizer é que eles tentam viver juntos mas esse é um mundo enlouquecido pela guerra em que as pessoas fuzilam traidores que recuam e todos estão obcecados pelo poder e a Itália tá numa pior nessa guerra aí e precisando desesperadamente de ajuda e pra eles só resta a fuga para Suíça. E aí nesse parágrafo já coloquei mais spoiler do que vocês gostariam e não avisei que tem spoiler porque senão vocês ficam mal acostumados. Cresçam.
Bom, Adeus às Armas tem aquela coisa hemingwayniana de macho que também chora, macho que só quer ser feliz mas o mundo é mais macho que ele, macho machucado, macho derrotado porque não foi tão macho, macho que não tem medo de nada a não ser de outros machos mais machos e etc. Mas também é uma história singela e bonita, escrita naquele naturalismo maroto, sem qualquer retoque na narrativa, um troço meio jornalísitico que salta aos olhos e agrada a maioria das pessoas porque é muito fácil vencer 400 páginas assim. Eu mesmo que não ando dos leitores mais ágeis do mundo, li em uns três dias. Acho massa inclusive que o tom do livro é muito leve e meio que se antecipa à censura dos filmes americanos, já que o autor não menciona o sexo entre os personagens, mas apenas sugere com eufemismos e imediatamente corta pra cena seguinte. As cenas de morte, entretanto, são descritas muito bem. É, parece mesmo cinema americano. Inacreditável como os caras não têm problema nenhum com violência, mas não podem ver uma mulher pelada que saem gritando em nome da família e do bom comportamento. Mas isso é assunto pra outra hora.
A edição da Bertrand Brasil tá muito bonita, e finalmente faz jus ao autor. Fonte grande, capas gráficas, papel jornal amarelado e bonito, cabeço e paginação juntas no topo da página e a assinatura do mestre no lugar do nome dele. Achei bem melhor do que a coleção antiga, e parece que tá saindo mais. Vamos ficar de olho.
Comentário final: 402 páginas em papel jornal (ou tipo papel jornal, sei lá). Macho não vacila, macho arrasa, macho não leva desaforo pra casa.
 Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Don Delillo, camaradagem, aquele escritor norte-americano que não deixa barato pra ninguém e faz de cada livro uma verdadeira obra de arte. Todo mundo que lê esse blog sabe que eu sou suspeito para falar do cara, mas saibam vocês que Homem em Queda, seu penúltimo lançamento (antecessor de Ponto Ômega, sua obra mais cabeçuda, na minha opinião), é, sim, um livraço como de costume, mas não prometo me estender no post de hoje por um motivo muito nobre: meu computador quebrou e tá difícil achar onde escrever. Felizmente fim de ano está chegando e quem sabe neste ano eu não dê presente para ninguém a não ser eu mesmo, afinal de contas, ó, mundo tão desigual.
Adivinha doutor, quem tá de volta na praça? Don Delillo, camaradagem, aquele escritor norte-americano que não deixa barato pra ninguém e faz de cada livro uma verdadeira obra de arte. Todo mundo que lê esse blog sabe que eu sou suspeito para falar do cara, mas saibam vocês que Homem em Queda, seu penúltimo lançamento (antecessor de Ponto Ômega, sua obra mais cabeçuda, na minha opinião), é, sim, um livraço como de costume, mas não prometo me estender no post de hoje por um motivo muito nobre: meu computador quebrou e tá difícil achar onde escrever. Felizmente fim de ano está chegando e quem sabe neste ano eu não dê presente para ninguém a não ser eu mesmo, afinal de contas, ó, mundo tão desigual.
Pois muito bem: se você olhar a capa de Homem em Queda (não olhou? Olhe agora que eu espero) não é difícil perceber que o livro trata dos ataques às torres gêmeas, naquele fatídico onze de setembro de 2001. Não sei por que todo mundo tem essa curiosidade mórbida de perguntar onde a gente estava durante os atentados, mas se alguém quiser saber, eu estava dormindo numa aula importantíssima de física. Pronto, passemos adiante. Dizia eu que Homem em Queda trata das torres, e tem como protagonista um homem chamado Keith, um sobrevivente do atentado que emerge do caos de poeira e destroços como um… eu ia dizer como uma fênix, mas aí pensei em algo menos gay pra falar e não achei, então vai fênix mesmo. Ele, ao invés de tomar qualquer providência racional, volta pra casa da ex-mulher, que mantém uma relação familiar passivo-conturbada com a mãe e seu padrasto, um sujeito misterioso que viaja o mundo e tem família em algum lugar da Europa, e revive o suicídio do próprio pai, que estourou os miolos com um rifle de caça certo dia. A chegada repentina de Keith transforma a relação do casal e cria um ambiente de reaproximação, o que pode ser muito bem visto como as mudanças inesperadas que condições extremas acarretam para a vida de pessoas simples. O filho do casal, Justin, entretanto, se torna obcecado com a figura de Bin Laden (ou Bill Lawton, como ele o chama por entender errado o nome). Ele fica noiado, patrulhando os céus à procura de novos aviões e obcecado com as características físicas e comportamentais do inimigo número 1 dos Estados Unidos.
 Ao mesmo tempo, Keith entra de cabeça em uma existência vazia de encontros amorosos com a dona de uma bolsa que encontra em meio aos destroços e viagens a Las Vegas para jogar poker, numa retomada de um hábito pré-onze de setembro com amigos peculiares que desempenham papéis diversos após o atentado. Sua mulher, Lianne, também começa a presenciar os feitos artísticos de um louco performático chamado de Homem em Queda, que fica pendurado por um pé com um cinto de segurança de pontes, postes e outros locais altos, para depois cair e se esborrachar no chão. Por último, a narrativa contempla ainda a vida de dois dos terroristas responsáveis por sequestrar os aviões. Em resumo, Homem em Queda, oferece uma multiplicidade de narrativas que servem unicamente para tratar o que toda a literatura que se dedicou ao fenômeno tratou: as diferenças, em vidas diferentes, de um mesmo evento, divisor de águas, histérico e dramático.
Ao mesmo tempo, Keith entra de cabeça em uma existência vazia de encontros amorosos com a dona de uma bolsa que encontra em meio aos destroços e viagens a Las Vegas para jogar poker, numa retomada de um hábito pré-onze de setembro com amigos peculiares que desempenham papéis diversos após o atentado. Sua mulher, Lianne, também começa a presenciar os feitos artísticos de um louco performático chamado de Homem em Queda, que fica pendurado por um pé com um cinto de segurança de pontes, postes e outros locais altos, para depois cair e se esborrachar no chão. Por último, a narrativa contempla ainda a vida de dois dos terroristas responsáveis por sequestrar os aviões. Em resumo, Homem em Queda, oferece uma multiplicidade de narrativas que servem unicamente para tratar o que toda a literatura que se dedicou ao fenômeno tratou: as diferenças, em vidas diferentes, de um mesmo evento, divisor de águas, histérico e dramático.
Particularmente, o excesso de americanismo nesse livro me chateou um pouco, já que eu sempre vi a literatura do DeLillo como algo universal e sem localismos, mas não dá pra culpar o cara já que todo americano, em maior ou menor grau, acha que o onze de setembro é um troço que diz respeito ao mundo inteiro, e não só a ele (e os posteriores atentados na Europa trataram de reforçar esse discurso). Mesmo assim, acho que a grande sacada do romance, em sua estrutura, é a diversidade de significados do atentado. Uma nova chance para os casais, que não têm outra escolha senão sublimar suas dificuldades ante a catástrofe nacional, um novo monstro para as crianças, para moldar suas infâncias, entretendo-as e amedrontando-as, um novo conceito para a arte, que ganha novos assuntos e ares de ativismo em sua vertente performática (a favorita de DeLillo, visto Ponto Ômega e A Artista do Corpo, já resenhado aqui), e uma necessidade quase urgente de retomar a existência tal qual fora antes, num simulacro de normalidade que só pode iludir os que se propõem a ela em momentos de calma e concentração, já que os tempos são mesmo sensíveis (há uma passagem ótima em que Lianne fica irritada porque a vizinha fica ouvindo “música étnica”, não necessariamente árabe). Mas a prosa do autor é invariavelmente sagaz, aguda, e a rapidez dos diálogos torna algumas partes engraçadas. Fico meio bolado com o fato de todos os personagens dele serem extremamente inteligentes e sagazes. Até as crianças! Sempre fico com a impressão de que, se eu estivesse num universo de DeLillo, seria a pessoa mais burra da face da Terra, mas isso é outra coisa e fica entre eu e meu psicanalista. Vocês ficam com esse belo livro da Companhia das Letras com papel pólen soft, fonte Electra e todos os cuidados de sempre, com tradução do grande Paulo Henriques Britto.
Comentário Final: 256 páginas de pura sagacidade narrativa. Toma essa, Bill Lawton!
 Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.
Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.
Pra quem chegou agora no planeta Terra, a coisa gira em torno do véio Santiago, um cubano pescador que, já completamente desprovido da vitalidade de outrora, tenta sem sucesso tirar seu sustento do mar. Pra quem estranha a nacionalidade do sujeito e a ambientação do romance, fique sabendo que o autor morou um tempo em Cuba, onde ele inventou, segundo a lenda, o mojito. O velho tem como único amigo um garoto, que lhe ajuda nas pescarias e que lhe dá de comer quando tudo mais rareia na geladeira – uma amizade que seria muito útil pra mim, tendo em consideração o constante e deplorável estado da minha geladeira (por enquanto esse amigo continua sedo o motoboy do delivery). Os pais do moleque, mesmo assim, não gostam que ele vá pescar com o Santiago porque ele é azarado, e se tem uma espécie supersticiosa nesse mundo é pescador. Aliás, qualquer pessoa que frequenta muito o mar, de surfista a pirata. É uma coisa natural. Uma hora a parada vira, você fica num mato sem cachorro e pra te acharem naquele mundaréu de água salgada só com muita reza braba e foguetório sinalizador. De modo que o velho sai pra pescar sozinho, na esperança de fazer uma economia aí pros dias que se apertam, uns peixinhos que dê pra vender sem precisar vender muito o peixe, e não é que aparece um PEIXE-ESPADA MONSTRUOSO ASSASSINO VINGATIVO AMIGO DO PCC. E o velho tá lá, mãozinha na fieira, puxando o bicho na maior história de pescador que poderia ter imaginado. O bicho é irascível, e cansa o velho, que passa dias e noites com a linha na mão ponderando sobre a sua fraqueza, sobre a sua habilidade de pescador e sobre a beleza e magnitude do peixe que agora precisa pescar para recuperar sua honra de pescador não-azarado. Isso é 90% do livro. Uma narrativa sintética com monólogos do velho Santiago sobre essas questões aí. A coisa segue nessa toada até que ele consegue finalmente pegar o bicho, e dá um jeito de amarrar ele no bombordo do barquinho, numa proeza que nenhum Pesque e Cia. até hoje mostrou.
Mas aí vem o pulo do gato que só quem leu sabe. A coisa não ia ficar por isso mesmo, é lógico. A tubarãozada, vendo aquele sangue derramado e o cheiro de peixe morto, vem logo pra fazer a janta de ocasião, e aí começa uma luta do velho com os cartilaginosos ardilosos, uma luta que eventualmente ele perde, e chega na costa só com a espinha gigantesca amarrada no barco, provando que sim, ele ainda é o pescador azarado de sempre. Nada dá certo, desgraça total, todo mundo pobre, Fidel preparando pra tomar a ilha e o velho continua sem comida e longe de seu esporte favorito, o beisebol.
 Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.
Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.
A Bertrand Brasil, do grupo Record, é quem publica a obra do Hemingway no Brasil. Pra comemorar, sei lá, os 60 anos do prêmio Nobel do autor, dado em 1954, eles resolveram dar uma mais do que necessária repaginada na coleção dele. E valeu a pena, porque tá lindíssima. Essa capa, que costumava ser horrorosa, cheia de degradê de cores, letras gigantescas e mal diagramadas, passou a ter um look mais gráfico, a assinatura do autor, cabeço com a paginação, um tamanho maior de página e papel pólen, o que já é 60% das melhorias do projeto. E, claro, manteve as belíssimas ilustrações de Charles Tunnicliffe e Raymond Sheppard que já figuravam na primeiríssima edição do texto em livro, em 1952 – essa é a 80ª edição no Brasil. Curti e aprovei. Vamos esperar as próximas!
Comentário Final: 124 páginas com papel pólen soft. ‘Tá aqui o bicho!’
———————————-
Apostas do Nobel:
 Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.
Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.
Thaisa Meraki: Haruki Murakami
Priscilla Scurupa: Joyce Carol Oates
Pedro Víctor Santos: Philip Roth
Vitor Nascimento: Amos Óz
Guilherme Sobota: Assia Djebar
Rafael Pousa: Alice Munro
Fidel Zandoná Forato: Willian Trevor
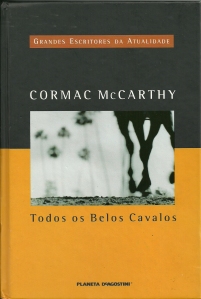 Todo mundo que me lê aqui sabe que eu começo falando dos livros pra depois falar da edição. Mas vou inverter a pirâmide hoje (tá ligado em pirâmide invertida? É gíria de jornalista pra prexeca, só quem é malandro sabe) e começar falando da edição. Todos os Belos Cavalos foi lançado pela editora Planeta DeAgostini, que fez a coleção Grandes Escritores da Atualidade, uma dessas coleções de banca de jornal que você compra quinzenalmente pra dar a chance do jornaleiro de ter carne na ceia de natal dele. De modos que esse livro, caso você goste do que eu vou escrever aqui hoje, vai ser meio difícil de ser encontrado, porque a Companhia das Letras, que é quem o publica, deixou esgotar a edição e nem sequer se dignou a fazer uma reimpressão desse que é top 3 das minhas leituras desse ano.
Todo mundo que me lê aqui sabe que eu começo falando dos livros pra depois falar da edição. Mas vou inverter a pirâmide hoje (tá ligado em pirâmide invertida? É gíria de jornalista pra prexeca, só quem é malandro sabe) e começar falando da edição. Todos os Belos Cavalos foi lançado pela editora Planeta DeAgostini, que fez a coleção Grandes Escritores da Atualidade, uma dessas coleções de banca de jornal que você compra quinzenalmente pra dar a chance do jornaleiro de ter carne na ceia de natal dele. De modos que esse livro, caso você goste do que eu vou escrever aqui hoje, vai ser meio difícil de ser encontrado, porque a Companhia das Letras, que é quem o publica, deixou esgotar a edição e nem sequer se dignou a fazer uma reimpressão desse que é top 3 das minhas leituras desse ano.
Enfim, a coleção foi lançada em 2003/2004 e era vendida a R$16,90 cada exemplar. Só que os caras fizeram uma coleçãozinha matadora, com títulos como Reparação, Abril Despedaçado, Voragem, Pastoral Americana, Ruído Branco, Todos os Nomes, O Ano da Morte de Ricardo Reis, Os Versos Satânicos, Santa Evita, Quando Éramos Jovens, Os Cadernos de Dom Rigoberto, Se Um Viajante de Uma Noite de Inverno, Os Mímicos, Coelho Corre.. ah, é demais, cara. Quando descobri isso fiquei meia hora batendo a cabeça na parede me perguntando onde diabos eu estava com a cabeça em 2003 que passei por várias bancas de jornal e não comprei nada disso. Enfim, passou e esse livro foi resgatado pela digníssima num sebo via Estante Virtual, anteriormente propriedade de um certo Ariel R. Pinheiro, que, vou dizer, deu mole ao vender essa joia provavelmente pelo valor de um maço de cigarros. A coleção é caprichada, com capa dura, uma foto boa pacas na capa e de resto, a mesmíssima tradução da editora original, que provavelmente fez com capricho. Recomendo, e agora que vocês já estão ávidos pela coleção, vamos ao livro em si.
Todos os Belos Cavalos é o primeiro volume de uma trilogia chamada “The Border Trilogy”, ou a Trilogia da Fronteira. São romances ambientados na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Seguem a esse o A Travessia (também esgotadão na editora, nem adianta chorar) e Cidades da Planície (talvez esse ainda tenha alguma coisa), os quais certamente estão entre as minhas próximas leituras, todos devidamente providenciados. Por hora, posso falar do primeiro. O livro conta a história de um sujeito chamado John Grady Cole, que veio de uma família de fazendeiros do Texas e cujo sonho maior é… tchanam! Ser fazendeiro. Mas justo quando chega a vez dele de assumir, o avô morre e o resto da família acha por bem vender a droga da fazenda que nunca deu dinheiro mesmo. Ele luta com isso o quanto pode, mas quando vê que não tá dando pé pra ele, resolve pegar um cavalo junto com o primo, de sobrenome Rawlins, e partir pro México, sem nenhum plano muito mais elaborado na cabeça. E aí ele chega numa fazenda mexicana, resolve domar os potros selvagens, se apaixona pela filha do hacendado e se mete em altas confusões, ao estilo faroeste cabôco do McCarthy. Seus personagens são todos sábios taciturnos, ninguém fica desfiando muitas teorias e ninguém vacila com os sentimentos na frente de ninguém. Onde os fracos não tem vez.
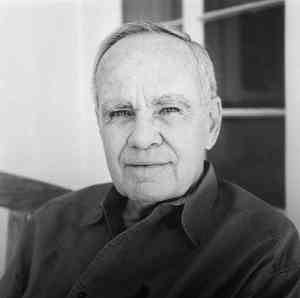 A sacada é que tudo isso se passa no ano de 1949, se fiz as contas direito, ou seja, algum tempo depois da época das grandes diligências e da época em que as pessoas faziam viagens de cavalo. A guerra já tinha acabado, “Guerra Fria” era um conceito moderno, como “sustentabilidade” é pra gente hoje, o bebop tocando nas vanguardas e tudo mais, e o cara viajando a cavalo. É justamente essa a graça dos romances desse senhor. Sabe quando você vê essas propagandas patéticas do governo incentivando as pessoas a lerem dizendo “quando você lê, você se transporta para outro mundo”. Bom, isso é balela pra 90% dos livros que eu leio, mas não para os livros do Cormac McCarthy. A parada sempre vai numa vibe meio Red Dead Redemption, meio Sergio Leone, meio propaganda de cigarro (galera que é mais novinha que lê esse blog nem deve saber do que eu tô falando). Bate uma sensação de liberdade, um isolamento do tempo, um despreendimento dos problemas mundanos em favor de questões existenciais.
A sacada é que tudo isso se passa no ano de 1949, se fiz as contas direito, ou seja, algum tempo depois da época das grandes diligências e da época em que as pessoas faziam viagens de cavalo. A guerra já tinha acabado, “Guerra Fria” era um conceito moderno, como “sustentabilidade” é pra gente hoje, o bebop tocando nas vanguardas e tudo mais, e o cara viajando a cavalo. É justamente essa a graça dos romances desse senhor. Sabe quando você vê essas propagandas patéticas do governo incentivando as pessoas a lerem dizendo “quando você lê, você se transporta para outro mundo”. Bom, isso é balela pra 90% dos livros que eu leio, mas não para os livros do Cormac McCarthy. A parada sempre vai numa vibe meio Red Dead Redemption, meio Sergio Leone, meio propaganda de cigarro (galera que é mais novinha que lê esse blog nem deve saber do que eu tô falando). Bate uma sensação de liberdade, um isolamento do tempo, um despreendimento dos problemas mundanos em favor de questões existenciais.
Porque essa é outra beleza da literatura de McCarthy. A ideia de que mesmo entre pessoas de vida mais simples, ainda há a inquietação cósmica, a vontade de entender o ininteligível, o desassossego da alma e o debate metafísico. Talvez até com mais propriedade, ante o contato maior com a vida do que nós, citadinos bunda-moles. E talvez por isso também o livro faça referência, em seu título, apenas aos cavalos, esses seres que são tratados com todo o carinho e veneração por seus donos. Os personagens de Todos os Belos Cavalos conhecem histórias de cavalos famosos, leem sobre cavalos, discutem sobre cavalos, comparam cavalos, matam e morrem por cavalos. E os cavalos continuam bichos, não são repletos de humanidade como em um certo filme do Spielberg que deveria inaugurar o Oscar de Melhor Cavalo, mas também nem por isso são desprovidos de profundidade ou vida. Entendem os homens, criam laços com eles, mas não se furtam a arroubos de susto e surpresa ante suas atitudes. Ainda são apenas cavalos, mas paradoxalmente são muito mais do que isso.
O que é estranho (e não deixa de ser uma qualidade) é o apelo comercial desse livro, que poderia muito bem virar um drama de faroeste moderno nas mãos de um charlatão de Hollywood. Acho que isso é uma técnica de sobrevivência dos escritores nos Estados Unidos. Nunca fazer um livro puramente contemplativo ou sisudo demais. Sempre tem que dar uma brecha pra, caso surja o desejo, adaptar a coisa pro cinema. Deve ser bem difícil conviver com esse povo ignorantão que mora nessa terra esquecida por Deus por causa disso, mas por outro, a coisa trabalha como um darwinismo literário: quem se sobressai, vira sucesso de crítica e público, e isso nunca vai ser algo ruim em tempos de Quentin Tarantino.
Por fim, Todos os Belos Cavalos pode ser o livro que vai te distrair durante um final de semana ou uma leitura que vai te marcar pela beleza, singeleza e profundidade. Assim como num finado programa da Globo, você decide.
Comentário final: 272 páginas do mundo de Marlboro. Oh yeah!
 Já viram esse filme, né? As Virgens Suicidas foi para o cinema pelas mãos da diretora Sofia Coppola, que é uma espécie de Midas às avessas: transforma tudo em que põe as mãos em pura merda. Como, por exemplo: história da França. Não sei se alguém viu Maria Antonieta, mas, se não viu, continue assim com essa atitude positiva com a vida e fique longe dessa aberração cinematográfica. E sei que estamos vivendo em tempos muy delicados, em que não faltam dedos para acusar o próximo de sexismo e homofobia, mas a impressão que eu tenho vendo a obra dela é a de que ela transforma toda a realidade sob uma ótica de menininha deslumbrada, uma vibe meio revista capricho, meio jovem indie inculta.
Já viram esse filme, né? As Virgens Suicidas foi para o cinema pelas mãos da diretora Sofia Coppola, que é uma espécie de Midas às avessas: transforma tudo em que põe as mãos em pura merda. Como, por exemplo: história da França. Não sei se alguém viu Maria Antonieta, mas, se não viu, continue assim com essa atitude positiva com a vida e fique longe dessa aberração cinematográfica. E sei que estamos vivendo em tempos muy delicados, em que não faltam dedos para acusar o próximo de sexismo e homofobia, mas a impressão que eu tenho vendo a obra dela é a de que ela transforma toda a realidade sob uma ótica de menininha deslumbrada, uma vibe meio revista capricho, meio jovem indie inculta.
Mas não estamos aqui pra falar da obra da Sofia Coppola, embora ela me sirva de ponto de partida. Pois foi o que pensei quando vi As Virgens Suicidas, o filme baseado no romance de Jeffrey Eugenides. Pensei: “taí um filme que estragou o que deve ser um belo de um livro”. Mas naquela época não conhecia a obra de Eugenides. Tempos depois li A Trama do Casamento, que achei um livro muitíssimo divertido, embora tenha terminado com uma leve impressão de que ele se pretendeu muito mais profundo do que realmente é. Daí peguei esse As Virgens Suicidas pra ler e acho que quando você lê 66% da obra de um autor, você já é capaz de dar um juízo mais ou menos certo sobre sua carreira. E vou dizer que, embora todo mundo me diga que o Middlesex, o outro livro dele que ainda não li, é muito bom, o sujeito é fraco pra diabo. Desses esforçados, coitado, mas ainda assim, fraco. Felizmente pra ele, esse romance virou Cult e agora as pessoas gostam mesmo sem saber o porquê. Bom, eu vou dizer exatamente por que eu não gostei.
Antes de mais nada, uma ressalva à tradução. O título original, The Virgin Suicides, tem um significado diferente da tradução, As Virgens Suicidas, embora pareça a mesma coisa. Do jeito que foi traduzido, tem-se a impressão de que o livro trata de meninas virgens com tendências suicidas, ao passo que, penso eu, o original traduz-se mais como Os Suicídios Virgens (até porque a virgindade das meninas não é exatamente atestada). E eis aí a real intenção do autor, suponho de novo. Tratar do incidente como sendo um ato irracional perpretado por quem não tem experiência suficiente para deliberar sobre a própria vida, verificar se há uma sabedoria tirada da vivência necessária para cometer suicídio, enfim, tentar entender o mistério da vida e da morte que não se explica quando acontece com gente jovenzinha. Mas talvez isso tenha sido culpa do cinema, que (eu acho, mas não tenho certeza) traduziu o filme primeiro e o livro pegou o título pra justificar a frase promocional que vem embaixo.
Pra quem não gosta, pode ter spoiler. Ou não, não decidi ainda, mas por via das dúvidas, se isso te incomoda, não leia. A história, pra quem não sabe, gira em torno de uma família de cinco meninas, um pai e uma mãe, übber religiosos, que é devastada quando a menorzinha se mata assim no mais. O lance vira especulação da mídia, dos vizinhos fofoqueiros, dos colegas de escola, e como se dá a convivência da família com a vizinhança depois disso, até o derradeiro momento quando não sobra mais filha pra contar história. Isso tudo não é spoiler porque é contado pelo narrador (e porque o livro chama AS VIRGENS SUICIDAS, por Tutatis, se você não quer presumir nada a partir desse título, você é um péssimo leitor, sabia?), um dos meninos da escola que vivencia tudo como um atento observador que, décadas depois, tenta reunir com os amigos seus documentos sobre a época para, como disse, desvendar o mistério da morte das meninas. Um narrado que está na história, portanto, mas poderia muito bem não estar, porque é inexpressivamente chato e não participa de quase nenhum momento importante do romance. Aqui, mais uma vez, têm-se o subterfúgio do autor que precisa de desculpa pra escrever suas linhas, não vamos julgar – pelo menos não ainda.
 E aí cabe ao leitor tentar interpretar os acontecimentos à luz da desgraça e concluir o que todo mundo sabe: as minas se mataram porque os pais eram todos Jesus freaks bitolados que não queriam saber de namorinho, mão na coxa e rock n’ roll, elementos essenciais para uma adolescência saudável como todo mundo sabe. O problema é que isso é muito óbvio, e ele sabe que qualquer leitor com três gramas de tutano no cérebro vai conseguir inferir isso da leitura, então ele tenta mascarar com passagens dúbias, as quais, mesmo assim, não apontam para qualquer outra explicação. E no final resolve ainda deixar o caso inconcluído na opinião do narrador-observador. O narrador, aliás, mal cogita essa hipótese do bitolamento dos pais, o que só explana o quanto o Eugenides falha miseravelmente em esconder a obviedade do seu livro, porque os velhos ficam malucos e viram a casa num chiqueiro em pouco tempo, tergiversam do assunto e etc.
E aí cabe ao leitor tentar interpretar os acontecimentos à luz da desgraça e concluir o que todo mundo sabe: as minas se mataram porque os pais eram todos Jesus freaks bitolados que não queriam saber de namorinho, mão na coxa e rock n’ roll, elementos essenciais para uma adolescência saudável como todo mundo sabe. O problema é que isso é muito óbvio, e ele sabe que qualquer leitor com três gramas de tutano no cérebro vai conseguir inferir isso da leitura, então ele tenta mascarar com passagens dúbias, as quais, mesmo assim, não apontam para qualquer outra explicação. E no final resolve ainda deixar o caso inconcluído na opinião do narrador-observador. O narrador, aliás, mal cogita essa hipótese do bitolamento dos pais, o que só explana o quanto o Eugenides falha miseravelmente em esconder a obviedade do seu livro, porque os velhos ficam malucos e viram a casa num chiqueiro em pouco tempo, tergiversam do assunto e etc.
O autor faz o diabo, é verdade, pra te convencer do contrário: deixa a entender que pode se tratar de pacto com Satanás, bota a culpa nos garotos, na escola, no julgamento que as pessoas fazem depois que a menorzinha se mata, e até numa música que se chama, vejam só, Virgin Suicide. Mas, tal como Moisés, não consegue. E todo o resto do clima que ele tenta dar pra história é igualmente falho. Um arzinho policial pro mistério das mortes? Não consegue. Uma tentativa masculina de desvendar o espírito de jovens mulheres? Não consegue. Uma intenção de marcar o zeigeist com música pop e menções à guerra? Não consegue. Frases profundas? Não consegue. O livro inteiro é um erro na mão desse cara, e a Sofia Coppola, hoje posso dizer, melhorou a bagaça simplificando e enxergando nele o que todo mundo enxergou, e deixando de lado toda a gordura inútil que ele tentou usar para enriquecer a trama.
Contudo, é preciso dizer, o livro é fácil de ler e é uma leitura agradável de tão boba, dessas que passam rápido e nem se sente. Diria que é um desses livros pra você levar pra ler na praia naquele dia em que cai um temporal e acaba a luz durante o dia. É, esse seria o melhor cenário para se ler Jeffrey Eugenides. E baixe a guarda do seu senso crítico também, senão o pretenso pedantismo desse cara vai te matar de desgosto. Aliás, talvez não devêssemos confiar num sujeito que tem cara de quem está tentando um papel em Don Giovanni versão pornô…
Comentário final: 230 páginas em papel pólen com uma capa horrorosa que parece livro da Meg Cabot. Vou nem comentar mais nada.
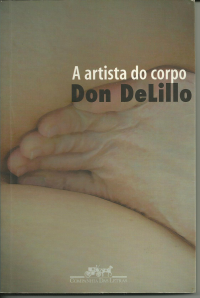 Às vezes eu paro, penso, reconsidero a decisão de continuar com este blog, de soltar essas palavras no deserto virtual da internet, mas aí lembro que, embora não tenha me dado dinheiro, o Livrada! me deu uma porrada de amigos e algumas boas indicações de livros. Toda vez que venho comentar um livro do Don DeLillo aqui, não esqueço que, sem este blog, talvez demorasse uma eternidade para descobrir este que é um dos meus autores favoritos. Isso porque, nessa rotina de ler um livro atrás do outro, a gente vai se acostumando à linguagem, às estruturas narrativas do contemporâneo, e a verdade é que, no final, pouca coisa é capaz de te sacudir. Felizmente, este nada simpático senhor da foto abaixo não me decepciona a cada livro seu que descubro. Por isso, hoje vamos tratar de A Artista do Corpo, que li depois de uma macarronada que a gente bateu com o Alcir Pécora numa noite. É um livro difícil, sério, sombrio e complexo, mas que eu, do alto da minha pretensão, julgo ter entendido. Então vamos tentar analisá-lo e colocar as coisas em termos simples, porque se eu, que vim da roça praiana da Costa Verde, consegui manjar esse livro, você também consegue.
Às vezes eu paro, penso, reconsidero a decisão de continuar com este blog, de soltar essas palavras no deserto virtual da internet, mas aí lembro que, embora não tenha me dado dinheiro, o Livrada! me deu uma porrada de amigos e algumas boas indicações de livros. Toda vez que venho comentar um livro do Don DeLillo aqui, não esqueço que, sem este blog, talvez demorasse uma eternidade para descobrir este que é um dos meus autores favoritos. Isso porque, nessa rotina de ler um livro atrás do outro, a gente vai se acostumando à linguagem, às estruturas narrativas do contemporâneo, e a verdade é que, no final, pouca coisa é capaz de te sacudir. Felizmente, este nada simpático senhor da foto abaixo não me decepciona a cada livro seu que descubro. Por isso, hoje vamos tratar de A Artista do Corpo, que li depois de uma macarronada que a gente bateu com o Alcir Pécora numa noite. É um livro difícil, sério, sombrio e complexo, mas que eu, do alto da minha pretensão, julgo ter entendido. Então vamos tentar analisá-lo e colocar as coisas em termos simples, porque se eu, que vim da roça praiana da Costa Verde, consegui manjar esse livro, você também consegue.
Bom, A Artista do Corpo não deixa de ser um livro datado pelo tipo de arte exercido pela protagonista. A moçoila, uma trintona-quarentona, pelo que o romance dá a entender, chama Lauren Hartke e é uma adepta da chamada body art, um tipo muito peculiar – peculiar aqui querendo dizer ixcrota – de arte performática que tem como principal objetivo a deformação do corpo, a descoberta de posições desconfortáveis, bruscas e dolorosas que explorem ao máximo a dimensão corporal, seus limites e seus significados. Como diz em um trecho, é como se ela “tentasse sair do próprio corpo”. Uma mandíbula jogada pro lado, um braço que passa por trás da cabeça, uma perna que dá a volta pelas costas, uma coisa não muito bonita de se ver, esse tipo de arte que o pessoal entediado e cool de Nova York paga caro para ver e se julgar inteligente de vez em quando. Esse tipo de arte foi muito popular pelo mundo no final da década de 90 e no começo do século 21, e teve lá seus representantes, tipo a Marina Abramovic, que fazia algo parecido, mas não igual. Umas coisas do tipo comer uma cebola inteira crua. É, isso é arte, mas pode ser falta de uma enxada e um lote para carpir, vocês decidem.
Enfim, essa nossa protagonista nos é apresentada numa cena tediosa de rotina com o marido, com quem toma café da manhã. A coisa toda tem ao mesmo tempo uma normalidade familiar e uma estranheza de fluxo, cheia de diálogos incompletos, ideias que ficam na intenção e frases desconexas, mas não absurdas. Algo muito parecido com os livros do Thomas Pynchon, se alguém me perguntar… A primeira frase do livro: “O tempo parece passar”. Olho no lance!
Logo depois, já sabemos do suicídio do marido, um cineasta aparentemente com um ou dois sucessos que levou um vida de fracassos de público e crítica. O luto recente faz com que ela se isole na casinha de litoral deserto onde passaram seus últimos dias juntos. Algo muito pouco indicado para pessoas em luto, vocês poderiam sugerir. Mas é o que ela faz, fica lá amargando a vida e olhando uma câmera de vigilância de uma estrada da Finlândia que tem streaming ao vivo. Mais uma vez, aqui, a ilusão de tempo real, transposição do espaço e etc. Coisas que entram em evidência…AGORA.
 Eis que a mocinha tá lá, trabalhando em suas bizarrices corporais, quando percebe que há um intruso na casa. Um homem, de idade indefinida, que às vezes parece velho, às vezes parece novo. Ele não fala coisa com coisa e é capaz de emular a voz dela e do marido morto, reproduzindo diálogos completos entre eles. É um pouco surreal a pouca atenção que ela dá ao fato, dedicando-se a uma reflexão ou outra sobre a presença do Sr. Tuttle, como ela o chama, mas convivendo de maneira relativamente harmoniosa com ele.
Eis que a mocinha tá lá, trabalhando em suas bizarrices corporais, quando percebe que há um intruso na casa. Um homem, de idade indefinida, que às vezes parece velho, às vezes parece novo. Ele não fala coisa com coisa e é capaz de emular a voz dela e do marido morto, reproduzindo diálogos completos entre eles. É um pouco surreal a pouca atenção que ela dá ao fato, dedicando-se a uma reflexão ou outra sobre a presença do Sr. Tuttle, como ela o chama, mas convivendo de maneira relativamente harmoniosa com ele.
Aqui entra a minha análise da história toda: o Sr. Tuttle é, na verdade, a materialização do deslocamento do tempo e do espaço que a body art propõe. É como se tudo o que ela fizesse com o corpo em sentido figurado se configurasse concretamente na figura dessa entidade. Para o Sr. Tuttle, o tempo não é algo linear, e suas falas afásicas refletem isso. Há uma dificuldade de percepção da passagem do tempo quando se está de luto e isolado no litoral deserto, afinal de contas. É como se a body art deslocasse algo para fora de seu corpo, suas lembranças, seu próprio passado, e a confrontação com esse tempo agora inexistente, já que só o presente existe segundo o Dalai Lama, se dá de uma maneira confusa e embaralhada. O passado, enfim, é tão indecifrável quanto o futuro.
A Artista do Corpo é um livro muito diferente dos outros livros do Don DeLillo que eu conheço. Enquanto Ruído Branco e Cosmópolis são mais engraçados, caricatos e culturalmente críticos, este é mais parecido com seu último romance, Ponto Ômega, um livro mega complicado e curto demais pra sua complexidade. Como esse. Ô sujeitinho que resolve escrever 300 páginas de piada e 100 páginas de espremedor de cérebro! Há diversas aproximações entre Ponto Ômega e A Artista do Corpo: uma teoria a ser desenvolvida (sobre o tempo em um livro e sobre o conhecimento em outro), uma arte estranha a ser apresentada (body art e a instação 24 hour Psycho, que passa o filme Psicose, do Hitchcock em super câmera lenta que faz o filme durar um dia inteiro), uma narrativa curta em formato de tríptico, com o miolo da história emparedado por uma introdução e um epílogo um tanto desconexos, qualquer coisa de surreal levemente abordado, etc etc etc. Parece que a literatura do Don DeLillo é um evento cíclico, que alterna entre a introspecção densa e a extravagância caricata, mas é óbvio que isso é uma boa coisa, mostra que o sujeito tem seus momentos e, como Wander Wildner já disse, não consegue ser alegre o tempo inteiro. Melhor do que querer juntar as duas coisas, como o Houellebecq faz às vezes.
O projeto gráfico da Companhia das Letras é aquela maravilha de sempre, e a capa, por mais que eu não goste muito de fotografias de corpo, tem seu mérito por casar com o conteúdo. Papel pólen, fonte Meridien, que é tipo a avó da Electra, e o formatinho que vocês já conhecem. Vale a pena a leitura porque é meu autor favorito e porque vai fazer vocês pensarem em alguma coisa. Abraços a todos!
Comentário final: 122 páginas em papel pólen. A verdadeira concussão está no cérebro.
 O tempo se estreita, a pós-modernidade líquida escorre pelos dedos e daqui a pouco eu tenho que dormir e vou escrever isso o mais rápido possível. Pra galera que acompanha o blog de fora do Brasil, estamos em época de eleições municipais, e amanhã é dia de seguir os queridos candidatos pela cidade para saber que confusões esses diabinhos vão aprontar. E quando eu penso nos candidatos da minha cidade, a única coisa que me consola é lembrar-me de que eu não moro em São Paulo. Paulistanos, me desculpem, mas vocês tem um gosto pra política similar ao seu gosto musical.
O tempo se estreita, a pós-modernidade líquida escorre pelos dedos e daqui a pouco eu tenho que dormir e vou escrever isso o mais rápido possível. Pra galera que acompanha o blog de fora do Brasil, estamos em época de eleições municipais, e amanhã é dia de seguir os queridos candidatos pela cidade para saber que confusões esses diabinhos vão aprontar. E quando eu penso nos candidatos da minha cidade, a única coisa que me consola é lembrar-me de que eu não moro em São Paulo. Paulistanos, me desculpem, mas vocês tem um gosto pra política similar ao seu gosto musical.
Mas não estamos aqui para falar de política, não é verdade? Estamos aqui para falar de coisas agradáveis e edificantes como literatura. Ou, mais especificamente, no caso de hoje, de quadrinhos. Eu só falo de quadrinhos em duas situações limítrofes: a primeira é quando a graphic novel (para usar um outro termo, mais afrescalhado) em questão é muito boa; a segunda, quando tô sem livro pra comentar. Felizmente hoje é o primeiro caso, então regozijem-se (regozijar é um verbo que só dá pra escrever, jamais pronunciar sem enrolar a língua) com as maravilhas da HQ estadunidense Retalhos, do Craig Thompson, um dos livros mais hypados tanto pelos críticos da linguagem quanto pelos meninos que tocam músicas do Charlie Brown Jr no violão, sentados na rampa de skate de seu bairro com uma camiseta suada de três dias.
E quem é Craig Thompson, vocês me perguntariam com a avidez e a curiosidade de quem chega cá por essas paragens cibernéticas para embriagar-se com o doce suco do conhecimento. E o mais bonito da resposta é que ela está contida na própria obra. Thompson fez um quadrinho autobiográfico em que conta trechos da sua infância e episódios da sua adolescência que culminam na descoberta do primeiro amor adolescente. Toda aquela parada de “quinta-série-o-primeiro-beijo-a-primeira-sacanagem”, só que pra ele aconteceu muito mais tarde porque — aí é que tá! — o cara foi criado num ambiente ultra-religioso em que Jesus era quem dava a palavra final nas decisões da família. Pecado original, toda aquela culpa, o rapazote não podia nem desenhar direito e a professorinha da escola dominical dizendo que ele não ia poder nem desenhar no céu, era óbvio que sairia dali uma mente brilhante, já que todo artista tem uma alma torturada (é o boato que corre à boca pequena). Só quando ele já fica maiorzinho, quase terminando a escola, é que conhece Raina, uma menina cristã que frequentava um desses Jesus Camps para os quais ele ia no verão (ou no inverno, sei lá), e que dá pra ele de presente uma colcha de Retalhos, símbolo da devoção e da paciência do primeiro amor.
Nesse amor adolescente reside a beleza e a pureza das respostas das crianças. É num diálogo sincero com o eu do passado que Craig junta as pontas da vida até o momento para chegar à magnífica conclusão de que é justamente quando o amor se mostra em seu estado mais selvagem e arrebatador é que ele é igualmente impotente e castrador. As relações sistólicas e diastólicas de quem, ao mesmo tempo em que sofre com o ameaçador e desconhecido futuro que implica o clássico chute pra fora do ninho, quer drástica e irremediavelmente já ter encontrado uma resposta para endireitar a vida amorosa. Condicionar os primeiros anos da vida adulta a esse amor, mudar-se para um trailer, viver de música, ir morar no Hawaii e tocar guitarra às três da manhã com a vizinhança de cabelo em pé, é esse o tipo de aniquilação da ambição que o amor juvenil causa. Nada mais lindo do que ver um homem sem qualquer projeto de vida a não ser encontrar um cantinho para cutucar o pudim da amada em paz, sem ser incomodado pelas chatices do estilo de vida yuppie.
 Tudo separa Raina de Craig Thompson. A distância geográfica (a mocinha mora em outra cidade, muito longe dele), a abstinência sexual (católicos do meu Brasil: saiba que esse não é um termo negociável do cristianismo. Ou você espera ou você não tem direito de comemorar o natal, foi o que uma autoridade do baixo clero certa vez me falou), a necessidade de instruir-se profissionalmente para trabalhar de sol a sol numa cidade sem sol, tantas outras prioridades de sobrevivência a serem cumpridas antes de gozar do conforto para fornicar, amar, casar. Ai ai, não é fácil ser um jovenzinho. Pra piorar, o autor-protagonista precisava ainda acertar as contas com seu criador, com aquela perda sistemática da fé que acarreta a tomada de consciência das agruras da vida adulta. Os catequistas têm se empenhado agora em não levantar muito as expectativas do pessoal, dizendo que Deus é só amor porque já viram que não dá certo, mas naquela época a coisa era um pouco diferente e o bichinho acuado caiu em si e renegou secretamente sua religião.
Tudo separa Raina de Craig Thompson. A distância geográfica (a mocinha mora em outra cidade, muito longe dele), a abstinência sexual (católicos do meu Brasil: saiba que esse não é um termo negociável do cristianismo. Ou você espera ou você não tem direito de comemorar o natal, foi o que uma autoridade do baixo clero certa vez me falou), a necessidade de instruir-se profissionalmente para trabalhar de sol a sol numa cidade sem sol, tantas outras prioridades de sobrevivência a serem cumpridas antes de gozar do conforto para fornicar, amar, casar. Ai ai, não é fácil ser um jovenzinho. Pra piorar, o autor-protagonista precisava ainda acertar as contas com seu criador, com aquela perda sistemática da fé que acarreta a tomada de consciência das agruras da vida adulta. Os catequistas têm se empenhado agora em não levantar muito as expectativas do pessoal, dizendo que Deus é só amor porque já viram que não dá certo, mas naquela época a coisa era um pouco diferente e o bichinho acuado caiu em si e renegou secretamente sua religião.
Tudo isso me lembra esse vídeo:
Então é basicamente isso, o Retalhos: uma história sobre a descoberta da própria sexualidade, das próprias opiniões, e da tristeza que é envelhecer. O mais legal do livro é a linguagem bíblica com que ele embasa todas as pequenas revelações da sua vida, a narrativa não linear que vai e volta à sua infância (o rapaz foi abusado pelo baby-sitter quando era criança de verdade? Acho muito absurdo como ele cita isso no livro como a maior das trivialidades). Mas é na sinceridade da história que ele ganha o leitor. É incrível como as pessoas querem reinventar a roda em obras autobiográficas quando é um dos poucos gêneros em que existe uma fórmula clara do sucesso: sê sincero e receberás o céu. Foi isso o que o cara fez. Um retrato sincero sobre sua infância, sua juventude, seus medos e seus tesões, tudo, obviamente, num desenho maravilhosamente bem feito, engraçado e comovente ao mesmo tempo. Não é, nem de longe, o quadrinho genial que todos dizem encontrar, mas é uma singela história de vida que pode ganhar um cantinho no coração da galera.
O projeto da Companhia das letras é simples como o desenho de Craig Thompson, preto no branco sem tons de cinza (graças a Deus, ninguém aguenta mais tom de cinza nenhum por essas bandas). A tradução sempre precisa do Érico Assis ajuda na boa leitura da coisa, mas é nas splash pages e nos quadrinhos mudos que a gente percebe a riqueza do traço e dos enquadramentos, da direção artística do autor, se a gente pode dizer assim.
E é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. E também não posso, como disse, estou mais em cima da hora que aquele coelho da Alice. Desculpem pela sinceridade e pela brevidade de hoje, espero que não seja um impeditivo para apreciarem a leitura. E a propósito, perdoem e desconsiderem quaisquer erros ortográficos ou de digitação. Ando sem tempo para uma revisão detalhada. Fui!
Comentário final: 592 páginas em papel offset. Finalmente um afundador de crânio de volta a esse site.
 Boemia Rhapsody, aqui me tens de regresso! Depois de um mês e bordoada longe da internet, longe dos blogs, longe de casa e longe do país, voltei para dar continuidade a esse bonde pesadão que não tem marcha lenta que é o Livrada! Sentiram saudades? Espero que sim, e prometo que hoje vou fazer valer a espera, mesmo porque não é de qualquer livro que vamos tratar hoje, e sim do estupendo, portentoso e calamitoso Meridiano de Sangue, do Sr. Cormac McCarthy. Não sabe que livro é esse? Não sabe quem é Cormac McCarthy? Não sabe que fim levou o Demóstenes? Não sabe como pegar mulher na marcha das vadias? Vem comigo então!
Boemia Rhapsody, aqui me tens de regresso! Depois de um mês e bordoada longe da internet, longe dos blogs, longe de casa e longe do país, voltei para dar continuidade a esse bonde pesadão que não tem marcha lenta que é o Livrada! Sentiram saudades? Espero que sim, e prometo que hoje vou fazer valer a espera, mesmo porque não é de qualquer livro que vamos tratar hoje, e sim do estupendo, portentoso e calamitoso Meridiano de Sangue, do Sr. Cormac McCarthy. Não sabe que livro é esse? Não sabe quem é Cormac McCarthy? Não sabe que fim levou o Demóstenes? Não sabe como pegar mulher na marcha das vadias? Vem comigo então!
Cormac McCarthy ficou mais famoso no mundo depois que dois de seus livros foram adaptados para o cinema. Primeiro, o espetacular Onde os Fracos Não Tem Vez, dirigido pelos Irmãos Coen, talvez o melhor indicador do nível intelectual alheio já criado na história da humanidade. Pode perguntar para qualquer pessoa se ela gostou desse filme, e pode igualmente erguer uma sobrancelha e falar um psicanalítico “aham” ante qualquer negativa, principalmente se a justificativa for “odiei o final”. Sim, a gente sabe que quem gosta de sertanejo universitário é objetivamente involuído, mas esse filme separa melhor o joio do trigo. Depois foi A Estrada, dirigido por sei lá quem com sei lá queloutro no papel principal porque não assisti e não sei se quero porque vi a capa e já temo terem feito cagadinha em cima da obra do sujeito. O que importa é que jogaram o nome Cormac McCarthy pro mundo com o cinema – o que, convenhamos, é a única coisa pra qual o cinema de Hollywood presta hoje em dia – e imagino que alguém tenha se aventurado a ler o sujeito por causa disso. Eu sei que eu fui um deles. E, durante minhas tão merecidas férias, resolvi escolher exatamente este livro para ler nos Intercitys e TGVs da vida.
Antes de mais nada, o título já indica algo para você. Se não o “sangue” de Meridiano de Sangue, o título alternativo. Sim, é Meridiano de Sangue ou O Rubor Crepuscular do Oeste. A gente já foi doutrinado desde a aurora da nossa vida literária que quando um cabra da peste resolve colocar um título alternativo na obra é porque ele é inteligentão, mesmo que na maioria das vezes seja só um zé-mané. Agora, ninguém coloca um título como O Rubor Crepuscular do Oeste sem estar sujeito a julgamentos mil, dos pés a cabeça, da capacidade estilística de manter a pompa do título ao longo do romance inteiro. Isso é esperado. É como se auto apelidar de Tripé, as pessoas vão checar a pacoteira. Então, caros – e isso serve para vocês, jovens escritores – certifiquem-se que o título das coisas corresponde ao seu conteúdo em grandeza. McCarthy fez isso. Não aquele gordinho paranoico, mas o Cormac McCarthy, quando escreveu Meridiano de Sangue ou O Rubor Crepuscular do Oeste (Evening Redness in the West).
A história do livro gira em torno de um garoto sem nome, a quem o autor (e o tradutor) chama apenas de kid. O kid é forçado a deixar o lar ainda moleque e ingressa na brutal gangue do capitão John Glanton que tem a missão de coletar escalpos de índios no oeste, passando pelo deserto de Sonora e outras paisagens ermas que conhecemos através de filmes americanos. E por quê escalpos, vocês me perguntariam. Bom, é sabido que nessa época do desbravamento da América do Norte, qualquer ajuda pra matar os índios era bem-vinda, e o pagamento pra esses sanguinários era mediante apresentação de escalpos. Isso era muito bom pros ruins de nascença – uma classe de ser humano diante da qual os antropólogos e psicólogos se dividem – porque, né, junta a fome com a vontade de comer. Glanton é acompanhado por um tal juiz Holden, um personagem sobrenatural que fala trocentos idiomas e domina qualquer técnica existente, de caçar sapo na chuva a fazer cupcake, e cisma em escrever num caderninho tudo o que existe, uma espécie de enciclopédia megalomaníaca. E ele, Glanton e a patota são maus feito pica-paus. O lance é matar índio, negro, mulher, velho, criança, cavalo, cachorro, filhotinho de cachorro, tudo, tudo, na maldade mesmo, desnecessariamente, o que faz de Meridiano de Sangue um dos livros mais pesados que você vai ler em vida (a menos que você curta um Marquês de Sade ou algo assim).
 E por que dessa violência toda? A partir daí você pode seguir seu próprio caminho e chegar as suas próprias conclusões, mas vou jogar meus dois centavos sobre o assunto (essa é uma expressão que não deu certo em português, mas vocês entenderam, né?). A violência a que o leitor e o kid, talvez a única tábula rasa desse circo, são obrigados a enfrentar confronta-os diretamente com seus desejos primitivos, e faz você se sentir um bosta de um animal por pertencer a essa raça. Tipo um tapa na cara dos cafas que mandam aquela de “o macho é feito para ter várias fêmeas, tá no nosso instinto”. Tá no instinto, malandro? Então olha aqui onde seu instinto vai te levar. Ao mesmo tempo, o autor não mede esforços para jogar na cara a fragilidade do corpo humano, em descrições vívidas e horripilantes de miolos espatifados, crânios dilacerados, carburador furado e o meu negão do lado (êpa, peraí, caceta). Como se ressaltasse o aspecto patético da coisa: bolhas de sangue e ossos que não aguentam 10 minutos de quebra-pau vivendo em pé-de-guerra. Ecce homo. É claro que a saga abriga questões bem mais profundas do que essa, e a isso serve bem a figura do juiz Holden, deus ex machina que explica as piadas, mas essa é só um detalhe que me impressionou e quis compartilhar.
E por que dessa violência toda? A partir daí você pode seguir seu próprio caminho e chegar as suas próprias conclusões, mas vou jogar meus dois centavos sobre o assunto (essa é uma expressão que não deu certo em português, mas vocês entenderam, né?). A violência a que o leitor e o kid, talvez a única tábula rasa desse circo, são obrigados a enfrentar confronta-os diretamente com seus desejos primitivos, e faz você se sentir um bosta de um animal por pertencer a essa raça. Tipo um tapa na cara dos cafas que mandam aquela de “o macho é feito para ter várias fêmeas, tá no nosso instinto”. Tá no instinto, malandro? Então olha aqui onde seu instinto vai te levar. Ao mesmo tempo, o autor não mede esforços para jogar na cara a fragilidade do corpo humano, em descrições vívidas e horripilantes de miolos espatifados, crânios dilacerados, carburador furado e o meu negão do lado (êpa, peraí, caceta). Como se ressaltasse o aspecto patético da coisa: bolhas de sangue e ossos que não aguentam 10 minutos de quebra-pau vivendo em pé-de-guerra. Ecce homo. É claro que a saga abriga questões bem mais profundas do que essa, e a isso serve bem a figura do juiz Holden, deus ex machina que explica as piadas, mas essa é só um detalhe que me impressionou e quis compartilhar.
Mas e a escrita, meus amigos? Preciso confessar que até então só tinha visto uma prosa tão maravilhosamente bem escrita assim em português, nunca em língua inglesa. Não li no original, mas a julgar pelo trabalho do tradutor de encontrar as palavras mais precisas possíveis, sei que o cara não ficou nos the book is on the table nesse romance (mérito do tradutor também, meus parabéns, senhor Cássio de Arantes Leite, quem quer que seja o senhor, tornou minha leitura muito mais aprazível). A prosa do McCarthy é densa, bonita, cada frase do juiz Holden parece sair de um aforismo do Nietzsche e cada descrição parece um quadro do Turner, bonito mesmo quando se está tratando de algo meia-boca. E me assombra a capacidade do cara de falar de detalhes específicos sobre como o sangue seca numa ferida, como uma bala atravessa a cabeça de um cavalo ou como uma faca raspa um osso. Não sei muito sobre o passado do autor, à exceção de seu ingresso nas forças armadas, mas tirando isso não sei se quero descobrir também.
E por último, o mais chocante: Meridiano de Sangue é, em certa medida, uma ficção histórica. Glanton realmente existiu, e os fatos narrados no livro foram baseados no relato autobiográfico de um de seus cupinchas. O mesmo livro diz que existiu também o juiz Holden, mas não que seja uma prova concreta de sua existência, já que a obra foi considerada meio mentirosa. Ainda assim, pombas! Não vou nem falar mais nada, vou terminar essa resenha com outro pombas. Pombas!
Ps: já faz algum tempo que adotei essa prática, mas estou oficializando aqui: não respondo mais comentários deixados no blog. Acho que no final das contas fica meio intromissor da minha parte e perdi a paciência discutindo picuinha no passado. Quem quiser que eu responda, pode me mandar um e-mail para bloglivrada@gmail.com, belezura?
Comentário final: 350 páginas na formatação padrão da Alfaguara. Afunda o crânio, capitão Glanton!