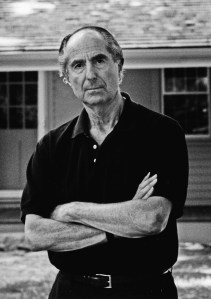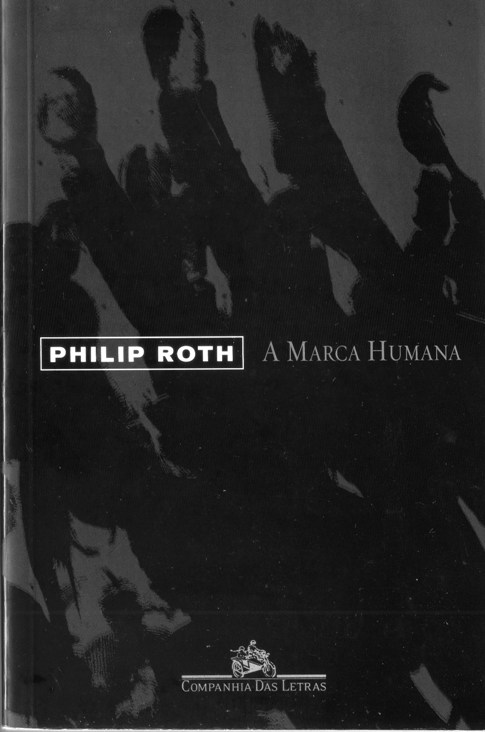Finalmente chegou a hora. Pastoral Americana, de Philip Roth, o livro da categoria 15 do Desafio Livrada! 2015. Esse livro me tomou muito tempo de leitura, não só porque é grandão, mas também porque tive que parar de lê-lo várias vezes para dar conta de outros compromissos literários. Mas não estou aqui para ficar de mimimi, embora essa abertura talvez justifique muito bem a superficialidade dessa resenha (até porque com a Camila escrevendo sobre Philip Roth por aí, a gente até desanima de tentar com mais força).
Finalmente chegou a hora. Pastoral Americana, de Philip Roth, o livro da categoria 15 do Desafio Livrada! 2015. Esse livro me tomou muito tempo de leitura, não só porque é grandão, mas também porque tive que parar de lê-lo várias vezes para dar conta de outros compromissos literários. Mas não estou aqui para ficar de mimimi, embora essa abertura talvez justifique muito bem a superficialidade dessa resenha (até porque com a Camila escrevendo sobre Philip Roth por aí, a gente até desanima de tentar com mais força).
Bom, fiquei sabendo que muita gente que leu o Pastoral para o Desafio não gostou do livro, achou chato. Devo dizer que 1- até entendo suas razões mas 2- vocês estão equivocados. Pastoral Americana é Philip Roth na sua melhor forma. Denso, crítico, cheio de contexto, cheio de tessituras, cheio do puro suco da voz sem estilo (isso é um elogio, acredite). Esse é o primeiro livro da Trilogia Americana, que tem ainda Casei com um Comunista (que ainda não li) e A Marca Humana. A trilogia serve pra acabar com a vida perfeitinha dos estadunidenses, então pode não significar muito pra gente que cresceu odiando os Estados Unidos, a Disney e seus patetas, mas lembre-se de que esse é um povo que abana bandeirinha pra assassinato de terrorista e que qualquer crítica interna já é motivo pra banir do coletivo fem… do Facebook.
O livro gira em torno da vida do “Sueco” Levov, um judeu prodígio de uma pequena comunidade judaica em Nova Jersey. O fascínio que o talento para o esportes de Levov desperta na comunidade chega até o narrador, ele, o mito, Nathan Zuckerman, que já fica todo feliz de ser colega do irmão menor do Sueco, Jerry. Quando Zuckerman encontra Jerry num desses encontros de trocentos anos da turma de mil novecentos e guaraná de rolha, descobre que o Sueco, com quem tinha se encontrado alguns dias antes com o pedido de que escrevesse sobre a vida de seu pai e de sua fábrica de luvas, morre de um câncer terminal que lhe escondeu durante o encontro, e que sua filha, Merry, era uma terrorista acusada de botar uma bomba numa agência-de-correio-barra-mercadinho e de matar um médico como resultado. Isso abala muito o narrador e escritor de sucesso, que tinha a vida do Sueco como o ideal máximo da vida americana assimilada pela cultura judaica. Os judeus, que sempre se sentiam pouco à vontade na América, tinham em Levov uma inspiração, Zuckerman dá a entender. Descobrir que a vida dele não era essa pastoral americana toda faz o escritor mergulhar em suposições de como deve ter sido esses perrengues da vida do Sueco, esse que na verdade agora lhe parecia um covardão para quem nada importava mais do que a vida certinha.
 E é aí que a história começa. Da cabeça de um escritor que imagina uma vida adulta para um ídolo de infância. A coisa tem um fundo incestuoso, uma fuga da realidade, diálogos imaginários (ainda mais imaginários) com Angela Davis (aquela, dos Panteras Negras) e com Audrey Hepburn, chantagem pesada com uma suposta amiga de Merry e ainda um caso que sua esposa Dawn, começa a manter com um grã-fino. Enfim, a vida do cara vira uma maluquice que só, e nesse processo, ele começa a desconstruir a vidinha americana e contextualizar aquilo. Sim, amigos, pois a coisa toda se passa durante a guerra do Vietnã, esse monolito na história dos Estados Unidos. Merry se revolta com a guerra, com o presidente, com a autoimolação dos monges em protesto e resolve trazer a guerra e o caos para dentro do país. Pior, para dentro do pacato vilarejo de Old Rimrock, lar do Sueco e de sua família, onde coloca a tal bomba. Os protestos e a questão racial também entram em pauta, já que os trabalhadores negros da fábrica de luvas do pai do Sueco aparentemente são uns mal agradecidos pelo acolhimento, dada a incontestável incompetência da mão-de-obra com a palma branca, segundo o próprio Levov. Entram aí Angela Davis e os Panteras Negras, e os Weathermen também, afinal.
E é aí que a história começa. Da cabeça de um escritor que imagina uma vida adulta para um ídolo de infância. A coisa tem um fundo incestuoso, uma fuga da realidade, diálogos imaginários (ainda mais imaginários) com Angela Davis (aquela, dos Panteras Negras) e com Audrey Hepburn, chantagem pesada com uma suposta amiga de Merry e ainda um caso que sua esposa Dawn, começa a manter com um grã-fino. Enfim, a vida do cara vira uma maluquice que só, e nesse processo, ele começa a desconstruir a vidinha americana e contextualizar aquilo. Sim, amigos, pois a coisa toda se passa durante a guerra do Vietnã, esse monolito na história dos Estados Unidos. Merry se revolta com a guerra, com o presidente, com a autoimolação dos monges em protesto e resolve trazer a guerra e o caos para dentro do país. Pior, para dentro do pacato vilarejo de Old Rimrock, lar do Sueco e de sua família, onde coloca a tal bomba. Os protestos e a questão racial também entram em pauta, já que os trabalhadores negros da fábrica de luvas do pai do Sueco aparentemente são uns mal agradecidos pelo acolhimento, dada a incontestável incompetência da mão-de-obra com a palma branca, segundo o próprio Levov. Entram aí Angela Davis e os Panteras Negras, e os Weathermen também, afinal.
Para entender Pastoral Americana, é preciso entender o que o escritor está colocando em jogo. O desencanto com o american way of life, que para você pode ser só mais uma mentira, mas que para os habitantes do país era um ideal a ser alcançado e para os imigrantes judeus, uma porrada de promessa. Uma promessa assim como o Sueco. A vida do Sueco conforme imaginada por Zuckerman é o desmantelamento dessa sociedade utópica, mas o fato dela ter sido quase toda imaginada pelo narrador faz com que o peso seja só simbólico, projetada em vidas que ele considerava adequadas e habilitadas para esse ideal. O fato de ninguém conseguir entender de fato o que se passa no coração de outra pessoa, a tecla martelada no romance, é também o que se pretende aceitar ao aceitar o fracasso do país em manter todo o caos para longe de suas fronteiras. Levov é um mistério para Zuckerman, e é dessa relação, mais os sentimentos do escritor com o momento histórico dos Estados Unidos que nasce sua história. E aí está a genialidade de Pastoral Americana. Se Zuckerman não tivesse inventado os detalhes da vida e do pensamento do Sueco, a história seria meramente metafórica e fabulária dentro do espectro do romance de Roth, mas ao invés disso, Zuckerman faz o oposto: se utiliza de uma vida destruída e de um país claramente zoado para compor uma metáfora dentro do espectro do romance de Zuckerman. Distanciar os acontecimentos do leitor que está lendo Pastoral Americana potencializa o drama americano para além do que poderia ser uma cagação panfletária qualquer e o transforma em uma sinédoque da realidade de todos daquela época, inclusive do então jovem e promissor autor Philip Roth.
Esse livro foi publicado pela Companhia das Letras, e é um dos vários que eu tenho (quem quiser me dar algum de presente, anota aí os que faltam lançados pela editora: Casei com um Comunista, O Teatro de Sabbath, Fantasma Sai de Cena, Adeus Columbus e Operação Shylock), e um dos melhores que eu li. A fonte é pequenininha e meio apagada (pelo menos no meu exemplar) e a página é aquele papel pólen gostoso. Tem a versão de bolso também, mas a minha é aquela old school. A capa não segue o projeto gráfico que depois se criou para dar identidade aos livros do autor, mas pra mim, tudo bem J
Comentário final: 480 páginas. Acorda sangue bão, aqui é Capão Redondo, tru, não Pokémon.