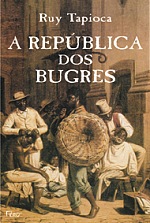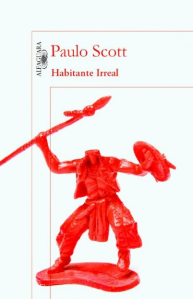 Tinha algumas metas de leitura esse ano, que até estipulei para mim mesmo no Desafio Livrada 2013 (como estão vocês com os seus?), mas se dissesse que consegui cumprir algum deles, estaria mentindo. O que não quer dizer que não tenha conquistado outros objetivos com os livros que me passaram pelas mãos ao longo do ano (e devo dizer que este ano foram poucos, em comparação com anos anteriores. Vida que freia, sabe como é, todo mundo precisa parar e respirar mais). Conheci mais dos russos, descobri autores novos muito bons e, mais do que isso, realmente me empenhei em encontrar autores brasileiros contemporâneos que valem a pena ler (e valer a pena ler já é demais pra grande maioria da produção atual). Paulo Scott, com esse Habitante Irreal, foi uma descoberta surpreendente. Jamais imaginaria tanta profundidade cultural, temática e literária em um romance escrito em 2011. Recado pros mau-amados da área: tem spoiler.
Tinha algumas metas de leitura esse ano, que até estipulei para mim mesmo no Desafio Livrada 2013 (como estão vocês com os seus?), mas se dissesse que consegui cumprir algum deles, estaria mentindo. O que não quer dizer que não tenha conquistado outros objetivos com os livros que me passaram pelas mãos ao longo do ano (e devo dizer que este ano foram poucos, em comparação com anos anteriores. Vida que freia, sabe como é, todo mundo precisa parar e respirar mais). Conheci mais dos russos, descobri autores novos muito bons e, mais do que isso, realmente me empenhei em encontrar autores brasileiros contemporâneos que valem a pena ler (e valer a pena ler já é demais pra grande maioria da produção atual). Paulo Scott, com esse Habitante Irreal, foi uma descoberta surpreendente. Jamais imaginaria tanta profundidade cultural, temática e literária em um romance escrito em 2011. Recado pros mau-amados da área: tem spoiler.
O romance tem como ponto de partida o final da década de 80 e um protagonista chamado Paulo, portoalegrense descontente com os rumos que o PT tomou depois de conquistar a prefeitura na capital do Rio Grande do Sul e com seu trabalho numa firma de advocacia. Ele resolve pedir a desfiliação do partido, as contas no emprego e fica meio perdido na vida até que encontra uma indiazinha de 14 anos na beira da estrada pedindo carona. Ao dar carona pra ela, ele começa a se envolver com a vida de Maína, que é o nome da indiazinha, numa espécie de compensação político-cultural pela opressão colonial e pelo descaso do seu partido com as minorias marginalizadas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Só que, obviamente a parada pega mal, porque se esse negócio de “estupro de vulnerável”, como costumam chamar, já é complicadíssimo, com uma índia dimenor, rapaz, a turma dos direitos humanos cai matando. O sujeito vai pra cadeia depois de uma merda com a polícia e passa um tempo em Londres porque, sei lá, passar a pior em Londres não é coisa só de Orwell. Enquanto isso, no Brasil, Maína, que tinha engravidado do Paulo, dá a luz ao Donato, um rapaz índio que acaba sendo adotado por um casal de assistentes sociais, ou algo assim. E a partir daí, começa uma história sobre passado, cultura, política, erros e acertos cujo teor preciso generalizar para esse blurb sob pena de entregar mais do livro do que já entreguei.
 O pior de tudo é que está justamente nesse desenrolar a maravilha do texto do Scott, de modo que fica bastante complicado fazer uma resenha adequada desse livro só com essa sinopse geral, mas vou deixar assim mesmo. Se você ainda não teve vontade de ler esse livro pelo que eu falei aqui, leia pelo que eu ainda não falei. O jeito como o autor conduz a obra é de uma maturidade literária jamais vista nessa geração de escritores, e lembra gente do naipe de Don DeLillo e Philip Roth. E a temática – isso de discutir a geração que atualmente está no poder no Brasil, e debater as relações delicadas com nossas raízes – é igualmente sem paralelo na nossa atual literatura. Scott sabe separar bem os estilos, e se resolve ser prosador poético em um capítulo, o faz distintamente da prosa geral do livro, que é densa e sem maiores floreios.
O pior de tudo é que está justamente nesse desenrolar a maravilha do texto do Scott, de modo que fica bastante complicado fazer uma resenha adequada desse livro só com essa sinopse geral, mas vou deixar assim mesmo. Se você ainda não teve vontade de ler esse livro pelo que eu falei aqui, leia pelo que eu ainda não falei. O jeito como o autor conduz a obra é de uma maturidade literária jamais vista nessa geração de escritores, e lembra gente do naipe de Don DeLillo e Philip Roth. E a temática – isso de discutir a geração que atualmente está no poder no Brasil, e debater as relações delicadas com nossas raízes – é igualmente sem paralelo na nossa atual literatura. Scott sabe separar bem os estilos, e se resolve ser prosador poético em um capítulo, o faz distintamente da prosa geral do livro, que é densa e sem maiores floreios.
E essa também não é uma história bonita, muito pelo contrário. A literatura dele, comumente suja, chega atropelando em tabus e vira para lados que o leitor não necessariamente quer ler, mas é confrontado com um mundo sujo e amoral à força. E as conexões que o livro sugere são ainda mais assustadoras, mas isso é trabalho para o leitor e não para o comentador do livro.
O projeto gráfico da Alfaguara é demais, e essa capa é meio engraçada e meio assustadora, mas, no geral, não foge muito dos outros livros da editora. À exceção de alguns capítulos, que o autor escreve inteiramente no formato de nota de rodapé, pra dar a entender que a história ali não está sendo narrada, mas meramente comentada e preparada paras as próximas páginas. No mais, é um livro sombrio, delicado e raivoso. Gostei
Comentário Final: 260 páginas de papel pólen. Uma porrada na cabeça do PT.