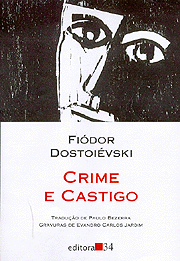Nada melhor para terminar a tal da semaninha light com um livro RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRASO. Eu poderia colocar um livro beatnik, mas seria óbvio demais. Poderia colocar Pergunte ao Pó, de John Fante, mas também seria muito óbvio. Então, por que não pegar um lado B desse autor que foi o precursor dos beats (segundo o papa-beat Charles Bukowski) e que, ao mesmo, do meu ponto de vista, resume toda sua obra como nenhum outro livro seria capaz de fazê-lo. Sim, porque John Fante sabe escrever sobre uma coisa só: ele mesmo e sua família de italianos pobres.
Nada melhor para terminar a tal da semaninha light com um livro RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRASO. Eu poderia colocar um livro beatnik, mas seria óbvio demais. Poderia colocar Pergunte ao Pó, de John Fante, mas também seria muito óbvio. Então, por que não pegar um lado B desse autor que foi o precursor dos beats (segundo o papa-beat Charles Bukowski) e que, ao mesmo, do meu ponto de vista, resume toda sua obra como nenhum outro livro seria capaz de fazê-lo. Sim, porque John Fante sabe escrever sobre uma coisa só: ele mesmo e sua família de italianos pobres.
1933 foi um ano ruim é uma dessas histórias tristes e que, assim como a sua quadrilogia (da qual Pergunte ao Pó é a terceira parte), trata das frustrações de um jovem chamado Dominic Molise, de 17 anos, que tem um sonho apenas: ser um grande jogador de baseball. Talento não lhe falta. Tem um daqueles braços campeões, que no livro, é inclusive um personagem a parte — volta e meia Dominic descreve os comportamentos autônomos de seu Braço (assim, chamado com letra maiúscula).
(Aliás, um parêntese: eu particularmente odeio esses filmes americanos de baseball em que o menino taca uma bola forte e o treinador fala “Santa Maria mãe de Deus, olha só o braço daquele garoto! Ei, filho, o que acha de jogar na liga?” “Não vou te decepcionar, treinador” brrrrrrr)
Como eu dizia, Dominic trata seu braço melhor do que trataria a um filho. O mantém aquecido com um unguento e atende aos anseios do membro (peraí que é o braço mesmo) mais rapidamente que os seus próprios. Mas Dominic é pobre, filho de imigrantes italianos paupérrimos que moram no gélido estado do Colorado. E por isso, precisa ajudar o pai, cujo maior patrimônio é uma betoneira. A saga de Dominic, que tenta escapar de sua rotina massacrante para ir para a Califórnia tentar ser alguém é dolorosa e bate fundo no peito. Qualquer frustração dessas de abrir mão dos próprios sonhos descrita num livro, de Anne Frank a Holden Caulfield, arrebanha multidões de leitores que sofrem junto (nunca vi esse povo, hein?). E Fante sacou isso antes de todo mundo, porque explorou essa mesma dor em quase todos os seus livros. Acho difícil alguém ler o livro e não chegar à última página com um aperto no peito. Final dramático, sem essas palhaçadas de beatnik de terminar o livro com frases esdrúxulas como “fumei o cigarro e olhei o mar”. Final tem que ser final mesmo, porra!
 Muito embora já tenha passado da idade de ler literatura beat, guardo muitas boas recordações desse livro, pelo qual tenho um carinho. Inclusive o indico pra qualquer Zé Mané que insiste nessa literatura pobre de ideias e estilo. Aliás, acabei de incorrer no erro de chamar John Fante de beat. Tudo bem mesmo, afinal, não fossem os beats para divulgar sua literatura, Fante passaria despercebido aos olhos dessa garotada que só gosta de música, sendo ele um beat honorário, como um tiozão que joga bola com a molecada. Mas reconheço que sua obra, além de curta, é repetitiva. A foto também é repetitiva. Não aguento mais aquela foto horrorosa que tem ele de lado com o cabelo meio despenteado, por isso peguei uma foto bem escrota dele com um cachorro pra mostrar que qualquer coisa é melhor do que aquilo. Sério, que imbecil tira uma foto naquele ângulo? No mínimo, um anão incompetente com a câmera.
Muito embora já tenha passado da idade de ler literatura beat, guardo muitas boas recordações desse livro, pelo qual tenho um carinho. Inclusive o indico pra qualquer Zé Mané que insiste nessa literatura pobre de ideias e estilo. Aliás, acabei de incorrer no erro de chamar John Fante de beat. Tudo bem mesmo, afinal, não fossem os beats para divulgar sua literatura, Fante passaria despercebido aos olhos dessa garotada que só gosta de música, sendo ele um beat honorário, como um tiozão que joga bola com a molecada. Mas reconheço que sua obra, além de curta, é repetitiva. A foto também é repetitiva. Não aguento mais aquela foto horrorosa que tem ele de lado com o cabelo meio despenteado, por isso peguei uma foto bem escrota dele com um cachorro pra mostrar que qualquer coisa é melhor do que aquilo. Sério, que imbecil tira uma foto naquele ângulo? No mínimo, um anão incompetente com a câmera.
A edição do livro que eu li é aquela pocket da editora L&PM (que, segundo o Chico, são de alguns parentes distantes dele. Tô acreditando, hein, Chico?), que é o formato favorito para publicar beatniks (olhaí, falei de novo). E, convenhamos, a intenção de uma editora pocket não é fazer algo muito produzido. É, antes de tudo, divulgar o conteúdo. E por isso a capa do livro tem uma diagramação péssima, uma foto escrotérrima (provavelmente tirada pelo mesmo anão incompetente), e inclusive, propaganda de outros livros da editora no final. Se liguem, porra, ninguém de respeito faz mais isso desde 1980! E no começo, na parte de leituras afins, adivinha: só dá Bukowski e Jack Kerouac. O tiozão tá mesmo enturmado com a garotada. Não bastasse, papel offset pra tirar a gente do sério. Sorte da editora que eu não era o fresco que eu sou hoje pra livro na época que eu li 1933. Eu, seguindo o nome, realmente guardava o livro no bolso das minhas calças de mano. É, sorte deles.
Comentário Final: 135 páginas offset formato de bolso. Xi, marquim…