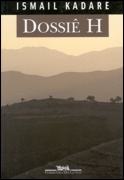Ler Saramago é uma ótima experiência, mas recomendo extrema parcimônia. Ler mais de um livro seu por ano pode encher o saco. É o tipo da literatura maneirista que precisa ser maneirada. Recomendo essa regularidade, então, para que ninguém pegue raiva de seu estilo pouco convencional, sem aspas, travessões e bom senso no tamanho dos parágrafos.
Ler Saramago é uma ótima experiência, mas recomendo extrema parcimônia. Ler mais de um livro seu por ano pode encher o saco. É o tipo da literatura maneirista que precisa ser maneirada. Recomendo essa regularidade, então, para que ninguém pegue raiva de seu estilo pouco convencional, sem aspas, travessões e bom senso no tamanho dos parágrafos.
Esse gajo, consagrado escritor, prêmio Nobel de literatura em 1998 — o único Nobel de língua portuguesa até o momento— é um daqueles velhinhos simpáticos que, na rua passam despercebidos e resistem na paisagem — vai enterrar muita gente ainda. E, por ter uma obra vasta, capaz de preencher uma prateleira inteira, tem lá seus livros mais famosinhos. Ensaio Sobre a Cegueira, O Evangelho Segundo Jesus Cristo, O Ano da Morte de Ricardo Reis, A Caverna, etc. Perto dessa antologia, A Jangada de Pedra (lançado no mesmo ano em que ganhou o Nobel) é um de seus lados B. Na verdade, o leitor experimentado de Saramago vai ver neste livro um protótipo de Ensaio Sobre a Cegueira, seu opus máximo. Os elementos são muito próximos, se liga na história.
A Jangada de Pedra, assim como o Ensaio, parte de um acontecimento inesperado. A península Ibérica começa a se desprender do continente europeu e passa a navegar pelo oceano Atlântico. Nisso todo mundo fica doido, como no outro livro. A partir daí, um grupo de pessoas, reunidas por escolha própria, ao saberem que todas experimentaram alguma espécie de estranheza antes do acontecimento, partem em um carro velho, apelidado Dois Cavalos, para ver a racha (é a racha mesmo). Tem tudo que o Ensaio Sobre a Cegueira tem: o grupo reunido pela adversidade, a falta de explicação lógica, o cachorrinho companheiro, a violência que as pessoas cometem quando são tiradas de sua normalidade, enfim, os elementos estão lá. A diferença talvez permaneça no teor: A Jangada de Pedra é um livro muito, mas muito mais brando, até engraçado em sua aventura. Tem piadinha com velho, tem sacanagem, tem uma felicidade peculiar de pessoas que, frente ao desconhecido, não se assustam, mas aproveitam as mudanças.
 Uma coisa que acho super legal nas histórias do Saramago é a capacidade que ele tem para pensar nos detalhes da adversidade que sua mente maluca cria. Neste livro por exemplo, há uma confluência de engenheiros que não se entendem sobre o que está acontecendo, e servidores da manutenção pública tentando consertar o problema com morsas ou coisas parecidas. Também há a cobertura jornalística, as manifestações pela Europa e inclusive a delicada situação em que fica Andorra (aquele país pequenininho entre a Espanha e a França no qual o Brasil mete uns quatro a zero nos amistosos da seleção). Ele deixa pouca coisa passar.
Uma coisa que acho super legal nas histórias do Saramago é a capacidade que ele tem para pensar nos detalhes da adversidade que sua mente maluca cria. Neste livro por exemplo, há uma confluência de engenheiros que não se entendem sobre o que está acontecendo, e servidores da manutenção pública tentando consertar o problema com morsas ou coisas parecidas. Também há a cobertura jornalística, as manifestações pela Europa e inclusive a delicada situação em que fica Andorra (aquele país pequenininho entre a Espanha e a França no qual o Brasil mete uns quatro a zero nos amistosos da seleção). Ele deixa pouca coisa passar.
Garimpei esse livro de uma livraria da Travessa, e acabei ganhando ele de presente do querido Tio Fred, meu vizinho lá em Mambucaba. A versão de bolso talvez seja a única disponível no momento. Saramago em versão de bolso deve ser um pouco dose, mas vale a pena. Essa edição que eu tenho tá velhinha, mas é da coleção do Saramago depois que ele ganhou o Nobel. A Companhia das Letras caprichou, mas acho meio sacanagem meter a faca no nosso bolso só por causa daquele selinho de prêmio Nobel. Simplesmente inviável. A capa em alto-relevo do Arthur Luiz Piza (artista plástico que tem um trabalho bem coerente) dá um tchananã pro negócio, e as laterais, todas em cores meio ocres e acinzentadas, para ornar com a obra de Piza na capa, compõe um outro tipo de coleção, não muito bonita, mas ao menos, distinta.
Comentário Final: 317 páginas pólen soft. Uma marretadinha.