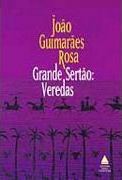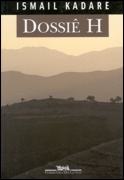 Vou confessar que não sei nada, ou quase nada, sobre a vida de Ismail Kadaré. Mas é só olhar pra cara de Droopy (“sabe de uma coisa? Eu estou tão feliz…”) dele e ler um ou dois livros de sua vasta obra para perceber que o sujeito é meio amargurado, pra não dizer totalmente amargurado. Não se pode culpá-lo, afinal. O leste europeu de uma maneira geral, e a Albânia mais especificamente, já que tratamos da literatura de seu país, é triste e escaldado como o cão de rua que apanhou a vida inteira. Até se você for dar amor, ele se assusta e sai correndo, ou te morde achando que é mais porrada. É mais ou menos essa a animosidade de Dossiê H, escrito em 1989 e publicado pela Companhia das Letras, nesta minha edição (presente de natal da minha mãe), em 2001, parte da bela coleção que a editora fez para um dos únicos escritores albaneses a ganhar o mundo. Belíssimas fotos na capa (a deste livro são colinas que se sobrepoem, não sei se da Albânia porque foi tirado do site CORBIS) do esloveno Arne Hodalic, fotógrafo da National Geographic. E cada edição tem uma cor diferente, uma moda que a Companhia das Letras faz muito, e fica bonito mesmo. O miolo também agrada: pólen soft basicão e fonte Electra (sou paradão nessa fonte, um chicabon pra quem me descolar ela). E o melhor é o conteúdo.
Vou confessar que não sei nada, ou quase nada, sobre a vida de Ismail Kadaré. Mas é só olhar pra cara de Droopy (“sabe de uma coisa? Eu estou tão feliz…”) dele e ler um ou dois livros de sua vasta obra para perceber que o sujeito é meio amargurado, pra não dizer totalmente amargurado. Não se pode culpá-lo, afinal. O leste europeu de uma maneira geral, e a Albânia mais especificamente, já que tratamos da literatura de seu país, é triste e escaldado como o cão de rua que apanhou a vida inteira. Até se você for dar amor, ele se assusta e sai correndo, ou te morde achando que é mais porrada. É mais ou menos essa a animosidade de Dossiê H, escrito em 1989 e publicado pela Companhia das Letras, nesta minha edição (presente de natal da minha mãe), em 2001, parte da bela coleção que a editora fez para um dos únicos escritores albaneses a ganhar o mundo. Belíssimas fotos na capa (a deste livro são colinas que se sobrepoem, não sei se da Albânia porque foi tirado do site CORBIS) do esloveno Arne Hodalic, fotógrafo da National Geographic. E cada edição tem uma cor diferente, uma moda que a Companhia das Letras faz muito, e fica bonito mesmo. O miolo também agrada: pólen soft basicão e fonte Electra (sou paradão nessa fonte, um chicabon pra quem me descolar ela). E o melhor é o conteúdo.
 A intenção do livro, tenho quase certeza, é mostrar que albanês da roça é mais jeca do que curitibano no Batel Soho. Para isso, ele usa como o tema a poesia homérica, aquela que é cantada e nunca escrita, passada entre as gerações de cantadores. Dois pesquisadores irlandeses vão para um fim de mundo lá da Albânia que dizem ser o último reduto dessa prática. Eles trazem consigo um gravador de fita magnética, o que, na época em que se passa o romance, era a última palavra em tecnologia de mídia. E claro que na Albânia não tem nada disso, então o povo fica rebuliçado achando que tem caroço no angu. O governador do lugarejo coloca um espião na cola deles, que por sua vez, se desespera para zelar por seu nome. Já a primeira-dama fica idealizando um romance com um dos pesquisadores, numa tensão sexual veladíssima à la Stendhal em O Vermelho e o Negro. Com tudo isso, a chance dos irlandeses saírem impunemente de sua expedição diminui a cada página. E a intenção deles, assim como a do desavisado que vai afagar o cachorro de rua, é das melhores. Mas a mordida é profunda e cheia de ziquezira.
A intenção do livro, tenho quase certeza, é mostrar que albanês da roça é mais jeca do que curitibano no Batel Soho. Para isso, ele usa como o tema a poesia homérica, aquela que é cantada e nunca escrita, passada entre as gerações de cantadores. Dois pesquisadores irlandeses vão para um fim de mundo lá da Albânia que dizem ser o último reduto dessa prática. Eles trazem consigo um gravador de fita magnética, o que, na época em que se passa o romance, era a última palavra em tecnologia de mídia. E claro que na Albânia não tem nada disso, então o povo fica rebuliçado achando que tem caroço no angu. O governador do lugarejo coloca um espião na cola deles, que por sua vez, se desespera para zelar por seu nome. Já a primeira-dama fica idealizando um romance com um dos pesquisadores, numa tensão sexual veladíssima à la Stendhal em O Vermelho e o Negro. Com tudo isso, a chance dos irlandeses saírem impunemente de sua expedição diminui a cada página. E a intenção deles, assim como a do desavisado que vai afagar o cachorro de rua, é das melhores. Mas a mordida é profunda e cheia de ziquezira.
Eu tenho quase certeza também (as certezas não são certas quando você lê um autor pela primeira vez) que esse livro era para ser uma comédia. Afinal de contas, tem todos os elementos: O estranho que chega, a cidade em polvoroça, a paranóia com estrangeiros que vem fazer-nã0-sei-o-que-aqui-nesse-fim-de-mundo, a mulher casada com fogo na periquita, o espião em fim de carreira, enfim, um cenário propício para uma comédia do interior no melhor estilo O Bem Amado. Mas como eu disse, o sujeito é tão amargurado que a comédia dele saiu super triste. E escrever um romance de comédia (uma comédia que seja inteligente, vá lá), requer do autor uma sutileza e uma relação muito íntima com o humor, porque, na forma de palavras, todo o texto parece triste. E com esse não foi diferente. Se é, de fato uma comédia, vou dizer que é a comédia mais triste que eu já li.
Um PS: É louvável o trabalho desses tradutores que fazem chegar ao português obras escritas em línguas bizarras sem fazer ponte com outro idioma. O tradutor Bernardo Joffily, poliglota que só ele, se deu ao trabalho de aprender albanês e traduzir a obra de Kadaré. É esse tipo de coisa que dá o verdadeiro acesso à cultura do mundo. Então, Bernardo Joffily, um abraço pro senhor. Se eu te encontrar algum dia, te pago um suco.
Comentário final: 166 páginas em polém soft de gramatura baixa. Deixa um hematomazinho, no máximo.