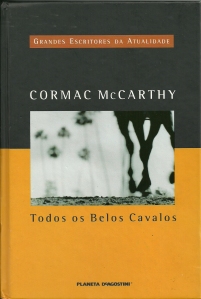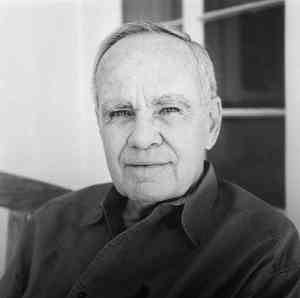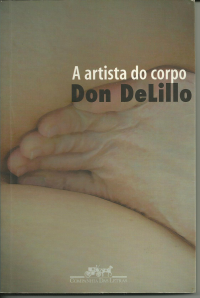Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.
Ora, ora, ora, mais um clássico da literatura do século 20 por aqui. Aliás, um clássico curtinho. Clássico curtinho da literatura do século 20. O melhor tipo de clássico para o leitor comum. Rápido, acessível, geralmente barato, e quase, quase, quase sempre, permite qualquer leitura rasa que você queira fazer dependendo da sua disposição. Enfim, eis o arquétipo do livro universal. Taí pra quem quiser ler do jeito como quiser ler. O Velho e o Mar, que foi o último livro do Hemingway publicado em vida, é um desses casos e, graças a sua verve quase jornalística de narrar as coisas da maneira mais econômica possível, permite um sem fim de interpretações filosóficas, sociológicas, biológicas, metafísicas, naturalistas, políticas, gastronômicas, ergonômicas, psicodélicas, escalafobéticas e estrogonóficas sobre a manjada história do velhinho tentando pegar um peixe. E um aviso pros mal comidos de plantão: tem spoiler mesmo, na cara dura, sem dó. Te acostuma aí, boneco. Fica peixe.
Pra quem chegou agora no planeta Terra, a coisa gira em torno do véio Santiago, um cubano pescador que, já completamente desprovido da vitalidade de outrora, tenta sem sucesso tirar seu sustento do mar. Pra quem estranha a nacionalidade do sujeito e a ambientação do romance, fique sabendo que o autor morou um tempo em Cuba, onde ele inventou, segundo a lenda, o mojito. O velho tem como único amigo um garoto, que lhe ajuda nas pescarias e que lhe dá de comer quando tudo mais rareia na geladeira – uma amizade que seria muito útil pra mim, tendo em consideração o constante e deplorável estado da minha geladeira (por enquanto esse amigo continua sedo o motoboy do delivery). Os pais do moleque, mesmo assim, não gostam que ele vá pescar com o Santiago porque ele é azarado, e se tem uma espécie supersticiosa nesse mundo é pescador. Aliás, qualquer pessoa que frequenta muito o mar, de surfista a pirata. É uma coisa natural. Uma hora a parada vira, você fica num mato sem cachorro e pra te acharem naquele mundaréu de água salgada só com muita reza braba e foguetório sinalizador. De modo que o velho sai pra pescar sozinho, na esperança de fazer uma economia aí pros dias que se apertam, uns peixinhos que dê pra vender sem precisar vender muito o peixe, e não é que aparece um PEIXE-ESPADA MONSTRUOSO ASSASSINO VINGATIVO AMIGO DO PCC. E o velho tá lá, mãozinha na fieira, puxando o bicho na maior história de pescador que poderia ter imaginado. O bicho é irascível, e cansa o velho, que passa dias e noites com a linha na mão ponderando sobre a sua fraqueza, sobre a sua habilidade de pescador e sobre a beleza e magnitude do peixe que agora precisa pescar para recuperar sua honra de pescador não-azarado. Isso é 90% do livro. Uma narrativa sintética com monólogos do velho Santiago sobre essas questões aí. A coisa segue nessa toada até que ele consegue finalmente pegar o bicho, e dá um jeito de amarrar ele no bombordo do barquinho, numa proeza que nenhum Pesque e Cia. até hoje mostrou.
Mas aí vem o pulo do gato que só quem leu sabe. A coisa não ia ficar por isso mesmo, é lógico. A tubarãozada, vendo aquele sangue derramado e o cheiro de peixe morto, vem logo pra fazer a janta de ocasião, e aí começa uma luta do velho com os cartilaginosos ardilosos, uma luta que eventualmente ele perde, e chega na costa só com a espinha gigantesca amarrada no barco, provando que sim, ele ainda é o pescador azarado de sempre. Nada dá certo, desgraça total, todo mundo pobre, Fidel preparando pra tomar a ilha e o velho continua sem comida e longe de seu esporte favorito, o beisebol.
 Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.
Fica claro numa leitura possível de O Velho e o Mar a relação de medo, admiração e força do homem com as forças da natureza, aqui melhor do que nunca representado pelo mar e pelo seus peixes maloqueiros. O velho, que já fora campeão de uma histórica contenda de queda-de-braço, se vê agora rezando e lutando com a decadência do próprio corpo para conseguir e defender o sustento que vem difícil e vai fácil. Isso, ao mesmo tempo em que se compara com Joe Dimaggio, o grande jogador de beisebol de sua época, numa desproporcional competição de força física e propósito de vida que, de alguma maneira, sempre foi um parâmetro para os homens. O Velho e o Mar pode ser uma alegoria para muita coisa: para o fato de que a natureza sempre vence, para a ignorância da própria impotência da raça humana, para a concretização das superstições marítimas, para a aurora dos ídolos do esporte ante a ruína do ocidente, para o medo cósmico do homem que precisa da natureza mas gostaria de não precisar. O Velho e o Mar é um desses livros cuja leitura que você faz diz muito mais sobre você do que sobre o próprio livro, em grande parte pela ausência de maiores significados explícitos no texto. Quer ser misterioso e discutido ao longo de décadas? Pode ser o easy way – criando polêmica atrás de polêmica – ou pode ser o Hemingway – jogando o dom da interpretação pra galera. E não está aí a maravilha de um clássico, numa daquelas definições de clássico do Italo Calvino em Por Que Ler os Clássicos? Um clássico, dizia ele, é um livro que nunca termina de ser lido. Ou comentado. Sei lá, não sou desses nerds que ficam vasculhando a biblioteca pra fazer uma frase. Sei que eu deveria ser, mas não sou. Não hoje.
A Bertrand Brasil, do grupo Record, é quem publica a obra do Hemingway no Brasil. Pra comemorar, sei lá, os 60 anos do prêmio Nobel do autor, dado em 1954, eles resolveram dar uma mais do que necessária repaginada na coleção dele. E valeu a pena, porque tá lindíssima. Essa capa, que costumava ser horrorosa, cheia de degradê de cores, letras gigantescas e mal diagramadas, passou a ter um look mais gráfico, a assinatura do autor, cabeço com a paginação, um tamanho maior de página e papel pólen, o que já é 60% das melhorias do projeto. E, claro, manteve as belíssimas ilustrações de Charles Tunnicliffe e Raymond Sheppard que já figuravam na primeiríssima edição do texto em livro, em 1952 – essa é a 80ª edição no Brasil. Curti e aprovei. Vamos esperar as próximas!
Comentário Final: 124 páginas com papel pólen soft. ‘Tá aqui o bicho!’
———————————-
Apostas do Nobel:
 Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.
Como vocês devem saber, o prêmio Nobel de literatura sai hoje. Alguns leitores apostaram no Facebook, como é tradição fazermos todo ano por aqui, então vamos deixar as apostas registradas pra depois não falarem que tem marmelada. O vencedor leva o Homem Lento, do Coetzee. E reforço, para quem perdeu de apostar, que curtam a página do Livrada! no Facebook. Sim, tem que ter Facebook pra curtir a página, se não tem perde essas barbadas que aparecem vez ou outra.
Thaisa Meraki: Haruki Murakami
Priscilla Scurupa: Joyce Carol Oates
Pedro Víctor Santos: Philip Roth
Vitor Nascimento: Amos Óz
Guilherme Sobota: Assia Djebar
Rafael Pousa: Alice Munro
Fidel Zandoná Forato: Willian Trevor