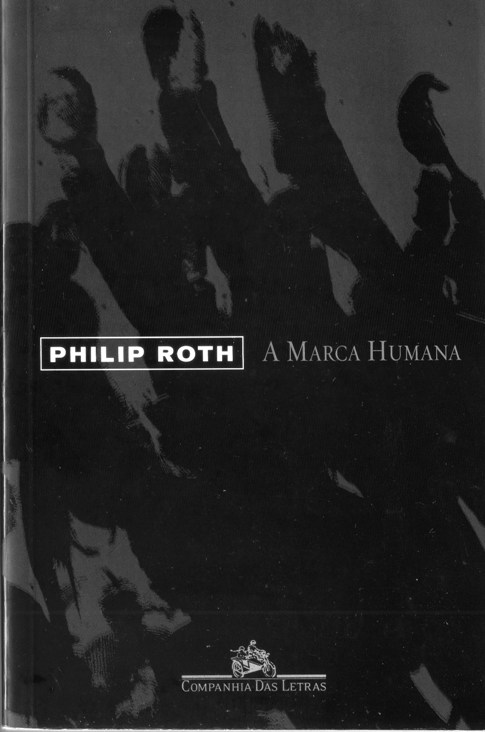Já começo avisando: não vou ajudar ninguém com trabalho de colégio, valeu? Toda vez que resolvo escrever sobre um clássico da literatura nacional, atraio que nem imã (“fucking magnets, how do they work?”) uma cambada de estudante desesperado por resumos e detalhes sobre a obra. Galerinha: vamos largar o Playstation, vamos desligar o World of Warcraft, vamos parar de ver filme de mulher pelada, vamos parar de ficar olhando para o teto por algumas horas e vamos dar mais valor para a ínfima parte da cultura nacional que de fato, tem algum valor.
Já começo avisando: não vou ajudar ninguém com trabalho de colégio, valeu? Toda vez que resolvo escrever sobre um clássico da literatura nacional, atraio que nem imã (“fucking magnets, how do they work?”) uma cambada de estudante desesperado por resumos e detalhes sobre a obra. Galerinha: vamos largar o Playstation, vamos desligar o World of Warcraft, vamos parar de ver filme de mulher pelada, vamos parar de ficar olhando para o teto por algumas horas e vamos dar mais valor para a ínfima parte da cultura nacional que de fato, tem algum valor.
O tempo e vento, meus amigos, o tempo e o vento! El tiempo y el viento, the temptation and the ventation, le tempé et le venté, der tempschlaschtung und die ventaschtwaft, pra gastar aqui toda minha eloquência em línguas estrangeiras. Essa maravilhosa saga familiar escrita por Erico Verissimo (aprendam: o nome do cara não tem acento em parte alguma). Para quem chegou agora no assunto da boa literatura, a obra é dividida em três partes: O Continente, O Retrato e O Arquipélago, e conta a história da família Terra-Cambará, a família mais pé fria pra política da história da humanidade. Incrível! A única vez que eles apoiaram os situacionistas, logo quem? Getúlio Vargas! Mas bom, não sou de dar spoilers, então leia quem não leu ainda.
O Continente, muito provavelmente, vai ser o livro mais emocionante que você vai ler em toda sua vidinha. De emoção mesmo, da parada pegar você de jeito e você não largar mais do livro. Nem Harry Potter faz isso, cumpadi. O livro traça uma narrativa não-linear a partir daquela revolução federalista de 1893, pendenga da gauchada dividida entre os pica-paus e os maragatos (adivinha de que lado a família estava?). São várias histórias, das quais se destacaram a de Ana Terra, mocinha pioneira que se f*** (meu pai falou pra eu parar de falar palavrão aqui) mais que a Dawn no Bem Vindo à Casa de Bonecas, do Todd Solondz, e a do Capitão Rodrigo, uma versão gauchesca de um careca: só quer saber de farra, mulher e porrada (oi! oi! oi!). Fizeram-me ler o livro “Um Certo Capitão Rodrigo” na escola, e foi uma das poucas leituras boas que a escola me mandou fazer, mas dentro do contexto fica muito melhor.
 Engraçado que essas duas histórias mais famosas são todas do primeiro volume d’O Continente. Mas isso não quer dizer que o segundo volume seja menos legal. Como esquecer da Luzia, a Teiniaguá, mocinha encantadora que dá aquele legítimo chá de buça no rapazote Bolívar, só para depois colocar as mangas de fora? E o Dr. Carl Winter, médico gringo que, por alguma razão, se parece muito com o Visconde de Sabugosa na minha cabeça? Enfim, são muitos personagens e muitas histórias pra tentar resumir numa sinopse porca como a minha. Digamos apenas que, enquanto o primeiro livro é mais cru e violento, como toda boa fase de pioneirismo que se preze, o segundo volume é mais brando e começa a entrar no tema das pinimbas familiares que interessam.
Engraçado que essas duas histórias mais famosas são todas do primeiro volume d’O Continente. Mas isso não quer dizer que o segundo volume seja menos legal. Como esquecer da Luzia, a Teiniaguá, mocinha encantadora que dá aquele legítimo chá de buça no rapazote Bolívar, só para depois colocar as mangas de fora? E o Dr. Carl Winter, médico gringo que, por alguma razão, se parece muito com o Visconde de Sabugosa na minha cabeça? Enfim, são muitos personagens e muitas histórias pra tentar resumir numa sinopse porca como a minha. Digamos apenas que, enquanto o primeiro livro é mais cru e violento, como toda boa fase de pioneirismo que se preze, o segundo volume é mais brando e começa a entrar no tema das pinimbas familiares que interessam.
Uma coisa bacana de se perceber n’O tempo e o vento é que cada parte da saga foca um aspecto muito específico da história. O forte do continente é a narrativa. Erico mostrou nesse livro (dividido em dois pra ficar mais fácil pra você carregar) que sabe contar uma história, sabe dar emoção pras paradas que ele escreve, sabe ser pintudo quando o assunto é construir acontecimentos; em O Retrato, como o próprio nome já sugere (embora o retrato do título seja mais concreto), o peso da história é na descrição do personagem, ou seja, do Rodrigo Terra-Cambará. Invocando a entidade do nosso querido presidente, nunca na história desse país um personagem foi tão bem construído como Rodrigo. Nem mesmo aquele sujeito sonhado nas Ruínas Circulares do Borges poderia ser mais bem feito. A complexidade do sujeito é realmente de cair o queixo, e quem leu tá ligado; por fim, em O Arquipélago, Verissimo bota o pau na mesa pra falar da política de seu tempo, provando que o cabra tem envergadura pra detalhar as ideias e o momento que viveu. Aí, ó, descobri um padrão. Primeiro livro, narração; segundo livro, descrição; terceiro livro, dissertação. Os três gêneros que a tia maroca tenta ensinar pra você nas aulinhas de redação. E você se perguntando por que diabos esse livro cai no vestibular.
Pra completar aqui o comentário, vamos falar desse projeto gráfico da Companhia das Letras. Deus sabe (sério, ele sabe tudo) que eu não gosto de livro de capa mole sem orelha, mas essa coleção do Erico Verissimo é a única exceção. Livros sensacionais. Capa dividida entre uma cor para cada obra (e são mais de quarenta que o gaúcho escreveu) e uma foto que, se eu for acrescentar um adjetivo pra elas, meu pai vai ficar chateado. E a foto da capa não é a única que é maravilhosa. No verso da quarta capa, uma foto diferente do autor para cada obra, uma mais bonita que a outra. Todas as fotos do projeto são de autoria do premiadíssimo Leonid Streliaev, que inclusive fez o livro “Erico por Leonid – fotos que ninguém viu”. Ele tem um site bacana com o trabalho dele que eu recomendo que vocês conheçam, clicando aqui. Bah, tchê, e não para por aí. Uma boa notícia para os maus leitores do meu Brasil: tem figura nesse livro também! Êêêê! E que figuras: ilustrações do traço livre de Paulo Von Poser, sempre em consonância com a foto da capa e a história do livro. A editora, carinhosa como sempre, fez a gentileza de colocar a árvore genealógica de toda a família (é nego pra caceta!) e uma cronologia que associa fatos históricos com acontecimentos narrados n’O tempo e o vento e também na vida de Erico Verissimo, além da crônica biográfica do próprio (não escrita por ele), que conta um pouco dos bastidores da produção do livro. Que mais? Ah sim, também tem um mapinha muito simpático do estado do Rio Grande, com a suposta localização de Santa Fé, a cidade fictícia onde se desenrola a trama. E para os cabeçudos da academia, surpresa: Prefácio de nada mais nada menos que Regina Zilberman, a Sra. Sabe-tudo do Verissimo, a Sra. Ficção histórica, a Maria Callas dos estudiosos do gênero (não somos dignos! Não somos dignos!). No mais, fonte Janson e papel pólen soft. Enfim, cambada: tá completíssimo, só falta esse livro aprender a fazer café. E não, ninguém me pagou pra eu babar esse ovo pra edição (mas estamos abertos pra negócio, aê, aê!).
Um dia volto para falar das outras partes da saga, mas na sequencia não, senão fica chato.
Comentário final: 413 + 430 páginas pólen soft. Já que são dois, faz um telefone sem fio que ninguém nunca mais mexe contigo.