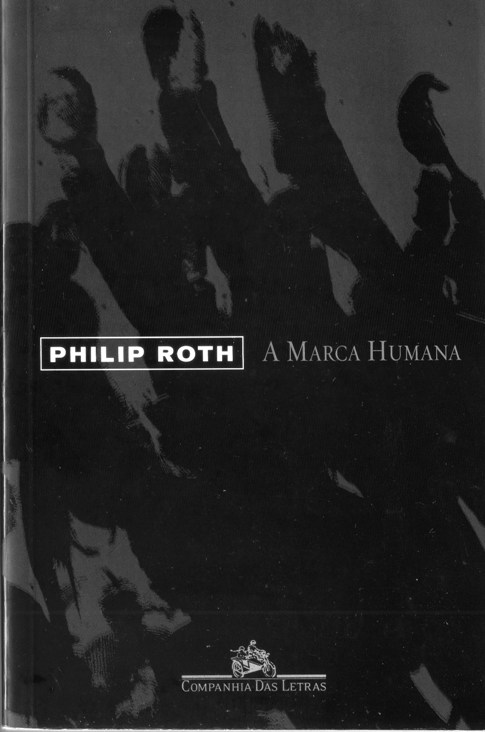Nelson Rodrigues! Essa pessoa amabilíssima, agradável, que quase nunca fala merda, que ama e dá aos pobres, que não faz ideia errada da gente, esse moço, pobre moço, que teve o azar de morrer no dia em que ganhou na loteria. Nelson Rodrigues era dessa época em que jornalista não era gente, salário não era dinheiro e dignidade não era poder (tá, isso não faz o menor sentido). O que eu quis dizer é que ele era daquele time de escritores enfurecidos que batiam as teclas até gastar as falanges. E como escrevia, este velhus decreptus. Como a época exigia quantidade em detrimento da qualidade, Nelson padronizou sua escrita.
Nelson Rodrigues! Essa pessoa amabilíssima, agradável, que quase nunca fala merda, que ama e dá aos pobres, que não faz ideia errada da gente, esse moço, pobre moço, que teve o azar de morrer no dia em que ganhou na loteria. Nelson Rodrigues era dessa época em que jornalista não era gente, salário não era dinheiro e dignidade não era poder (tá, isso não faz o menor sentido). O que eu quis dizer é que ele era daquele time de escritores enfurecidos que batiam as teclas até gastar as falanges. E como escrevia, este velhus decreptus. Como a época exigia quantidade em detrimento da qualidade, Nelson padronizou sua escrita.
Manja aqueles desenhos da Hanna-Barbera? Cenários que rolam ao fundo, cabeças que mexem enquanto o corpo fica parado pra não gastar com animação (isso, aliás, gerou toda a sorte de bizarrices como dinossauro de gravata, crocodilo de gravata, leão de gravata… Êta bicharada escrava do colarinho!) e eteceteras malandronas que colocaram a beleza dos desenhos da MGM numa situação inviável. Bom, Nelson Rodrigues fez algo parecido com seus textos. Elementos que sempre retornam, ideias que são marteladas, personagens frequentemente visitados, tudo isso fazia o ofício de sentar ali e escrever qualquer merda por dia uma coisa mais fácil.
Variações sobre mesmo tema. Eis o segredo do escritor em A vida como ela é… e outros textos. Assim como as letras de axé, as novelas do Manoel Carlos e os acordes dos Ramones, tudo em Nelson Rodrigues parece ser gerado por um software especializado. Mas pera lá, camarada! Isso não quer dizer que a obra do velhaco não tenha seu valor, muito menos que seja uma obra ruim. Nelson Rodrigues era foda, acho bom ninguém discutir nesse ponto. E A vida como ela é… taí pra martelar o dedo de quem discordar.
Historietas sobre os recalques da classe média e alta, tabus mil, tudo o que há de podre no reino da Dinamarca esse corno escreveu. Fica difícil criar alguma coisa depois disso. No livro, cem, eu disse CEM continhos estão publicados, e olha que não foram todos.
 Ler esse livro de cabo a rabo (quem curte expressões de livro como “ler de cabo a rabo”, “ler numa sentada”, etc? Levanta a mão aí!) pode te causar náusea, e até mesmo odiar o autor. Vai dizer “porra, tudo a mesma coisa!”. Mas isso é pra você (e claro, pra mim. Eu só pareço velho), que não lia toda semana o seu espacinho no jornal. Por isso meu conselho é deixar esse livro na cabeceira e de vez em quando, ler algum.
Ler esse livro de cabo a rabo (quem curte expressões de livro como “ler de cabo a rabo”, “ler numa sentada”, etc? Levanta a mão aí!) pode te causar náusea, e até mesmo odiar o autor. Vai dizer “porra, tudo a mesma coisa!”. Mas isso é pra você (e claro, pra mim. Eu só pareço velho), que não lia toda semana o seu espacinho no jornal. Por isso meu conselho é deixar esse livro na cabeceira e de vez em quando, ler algum.
E que coisas estranhas essas historinhas guardam! Meninas que morrem subitamente, com um golpe de ar — sério, que povo fraco é esse do meu Brasil?; mulheres que tratam seus maridos de “meu filho” como hein “Ih, meu filho, sua batata tá assando”. Gente que responde taxativamente “É batata!” pra tudo. “E ela morreu assim, subitamente, com um golpe de ar?” “Batata, meu filho!”. E tem mais, tem mais: gente que fica repetindo a mesma frase pra dar ênfase como em “E tem mais, tem mais!”; sujeitos com leves tendências pedófilas que chamam as gostosas de “pequena”; gente que fala “Tu és de morte”; motoristas de ônibus que atropelam os outros sem dó; garçonières em Copacabana, de amigos alcoviteiros (talvez naquela época Copacabana não fosse o lugar onde as pessoas mais eram vistas na face da terra); cartinhas anônimas pro corno lerdo, enfim, todo um universo que se repete e se rearranja de todas as maneiras possíveis. Isso, meus queridos, é Nelson Rodrigues em A vida como ela é… E nem me fale daquela versão televisiva que passava no Fantástico e era narrada pelo Zé Wilker, que aquilo me dá nojo. Melhor ler o livro mesmo.
O motivo principal pra preferir a história no livro do que na boca mole do Zé Wilker é essa edição da editora Agir. A editora Agir não era nada antes de ser comprada pela Ediouro. Deu uns cinco minutos nessa editora em 2004 em que tudo mudou! A cada dia me surpreendo mais com os projetos gráficos dela, e com a escolha de autores também. Fizeram esse livro gigantesco, lindo para o ano em que ele foi lançado (tem que ver que há uns dois anos fazer livro virou coisa séria pras editoras), apesar do MALDITO papel offset, de gramatura baixa ainda. De qualquer jeito, vale pela capa e pela falta de economia nas páginas. Mas não tente carregar ele por aí, você só vai se fuder, e seu massagista vai ficar rico.
SOBRE A PROMOÇÃO: Tô gostando de ver a galera comentando aí. O comentário de número 500 vai ganhar o livro Plataforma, do francês boiolinha Michel Houellebecq. Literatura de primeira para os meus leitores de primeira (sentiu a puxada de saco? Então comenta aí, cacete!).
Comentário final: 605 páginas em offset. O livro que extinguiu os dinossauros.