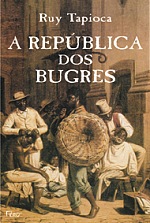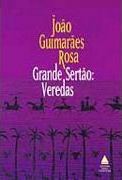Começo essa semana com um livro que acabei de ler. Não se assustem, criançada, eu não leio um livro por dia, mesmo porque não posso. Até então, tudo o que vocês leram nesse blog foi fruto de leituras pretéritas e uma relativa boa memória para livros que eu tenho graças a minha alimentação balanceada (tudo faz peso na balança) e minha abstenção do Gelol da Alma, o álcool (a benção, André Dahmer). Mas o livro de hoje, que ficou muito tempo figurado ali embaixo, no cantinho inferior direito, onde diz “Estou lendo”, finalmente foi concluído e está pronto para meu comentário nada abalizado, ainda mais em se tratando de Ruy Castro, um cara, que, pelo que eu ouvi, não gosta de nós, morlocks da imprensa. Então fica combinada a regra: enquanto não termino de ler o livro que está descrito ali embaixo, vou colocando outros que já li aqui, e assim que terminar algum, corro para a resenha do dia, ok?
Começo essa semana com um livro que acabei de ler. Não se assustem, criançada, eu não leio um livro por dia, mesmo porque não posso. Até então, tudo o que vocês leram nesse blog foi fruto de leituras pretéritas e uma relativa boa memória para livros que eu tenho graças a minha alimentação balanceada (tudo faz peso na balança) e minha abstenção do Gelol da Alma, o álcool (a benção, André Dahmer). Mas o livro de hoje, que ficou muito tempo figurado ali embaixo, no cantinho inferior direito, onde diz “Estou lendo”, finalmente foi concluído e está pronto para meu comentário nada abalizado, ainda mais em se tratando de Ruy Castro, um cara, que, pelo que eu ouvi, não gosta de nós, morlocks da imprensa. Então fica combinada a regra: enquanto não termino de ler o livro que está descrito ali embaixo, vou colocando outros que já li aqui, e assim que terminar algum, corro para a resenha do dia, ok?
Se Ruy Castro tem um talento visível aos olhos, é o de fazer o leitor se interessar pelos seus temas, mesmo que o tema em questão ainda não seja do interesse de alguém. Não me admiraria se houvesse, por exemplo, mais gente que leu o Anjo Pornográfico do que leitores assíduos de Nelson Rodrigues. Ou ainda, leitores que devoraram o seu Chega de Saudade e torcem a cara quando uma bossa nova qualquer toca no elevador de algum prédio chique. E com certeza há mais gente que leu Carmen do que gente que já viu algum filme da gaja mais brasileira aos olhos de Hollywood.
Sua fluidez de narrativa não é diferente em Carnaval no Fogo – crônica de uma cidade excitante demais, publicado pela Companhia das Letras e parte da coleção O escritor e a cidade, uma dessas coleções que eventualmente as editoras fazem para atacar o mercado com a força de quatro ou cinco escritores. No caso, mais três além de Castro: David Leavitt, que escreveu sobre Florença; Edmund White, sobre Paris e Peter Carey, sobre Sidney. Carnaval no Fogo é uma extensa crônica sobre a cidade do Rio de Janeiro, as particularidades e a história dos principais bairros e histórias curiosas sobre seus habitantes. Foi um dos vários livros que li sob a recomendação do José Carlos Fernandes, jornalista da Gazeta do Povo que, entre nós, ganhou a alcunha de o Gay Talese brasileiro. E ó, vale a pena, hein?
 Ruy Castro, com esse livro, pode ser considerado talvez o primeiro escritor sustentável que já existiu. Não sustentável no sentido de que o papel do livro foi impresso em papel higiênico usado ou outras maluquices ecológicas, mas sustentável em seu tema. Ora, o sujeito passou a vida inteira falando de Carmen Miranda, Garrincha, Nelson Rodrigues, Bossa Nova e o caralho a quatro mais que tiver passado pelo Rio de Janeiro. Que mal tem então pegar todo o rebotalho dessas pesquisas, dar uma recauchutada em tudo e lançar um livro cujo personagem maior é o pano de fundo de todos seus outros livros? E, ao contrário da sobra da pasta de coca que vira merla e crack, o Carnaval no fogo não tem sua qualidade prejudicada por essa reciclagem de informação. Pelo contrário: a quantidade de informação do livro é tão grande que talvez seja a crônica mais bem escrita sobre uma cidade e seus personagens históricos. Parece que Ruy viveu esses anos todos no Rio e ficou só olhando quinhentos anos de história para escrever essa pequena obra. Na verdade, tem horas que ele exagera — o leitor ideal dele nesse caso teria que, além de ficar de falcão na história brasileira, obter conhecimento de mundo referente à história da Europa e das navegações de uma maneira geral. Então cuidado se você for um desses que se perde em meio a muitos nomes e datas, o Carnaval no fogo pode foder sua cabeça bonito! Mas calma, muito provavelmente é só impressão minha. Acho que, às vezes, ele só usa algumas referências obscuras pra não perder o ritmo e não pecar por falta de adjetivação. Com seus leitores, Castro não se incomoda se alguns são burros. Com os jornalistas, entretanto e já dissemos, parece que a banda toca diferente…
Ruy Castro, com esse livro, pode ser considerado talvez o primeiro escritor sustentável que já existiu. Não sustentável no sentido de que o papel do livro foi impresso em papel higiênico usado ou outras maluquices ecológicas, mas sustentável em seu tema. Ora, o sujeito passou a vida inteira falando de Carmen Miranda, Garrincha, Nelson Rodrigues, Bossa Nova e o caralho a quatro mais que tiver passado pelo Rio de Janeiro. Que mal tem então pegar todo o rebotalho dessas pesquisas, dar uma recauchutada em tudo e lançar um livro cujo personagem maior é o pano de fundo de todos seus outros livros? E, ao contrário da sobra da pasta de coca que vira merla e crack, o Carnaval no fogo não tem sua qualidade prejudicada por essa reciclagem de informação. Pelo contrário: a quantidade de informação do livro é tão grande que talvez seja a crônica mais bem escrita sobre uma cidade e seus personagens históricos. Parece que Ruy viveu esses anos todos no Rio e ficou só olhando quinhentos anos de história para escrever essa pequena obra. Na verdade, tem horas que ele exagera — o leitor ideal dele nesse caso teria que, além de ficar de falcão na história brasileira, obter conhecimento de mundo referente à história da Europa e das navegações de uma maneira geral. Então cuidado se você for um desses que se perde em meio a muitos nomes e datas, o Carnaval no fogo pode foder sua cabeça bonito! Mas calma, muito provavelmente é só impressão minha. Acho que, às vezes, ele só usa algumas referências obscuras pra não perder o ritmo e não pecar por falta de adjetivação. Com seus leitores, Castro não se incomoda se alguns são burros. Com os jornalistas, entretanto e já dissemos, parece que a banda toca diferente…
A edição da Companhia das letras é simpática, então palmas para o Raul Loureiro, seu idealizador. Com ilustrações de traço livre de Felipe Jardim, papel pólen soft de praxe e fonte Filosofia, uma fonte com as serifas redondinhas. Achei irada. E o melhor: encadernação e acabamento em capa dura, que, pelo preço dos livros hoje em dia, devia ser praxe também.
Comentário final: 254 páginas pólen soft com capa dura. Bom pra quando você não acha o martelo…