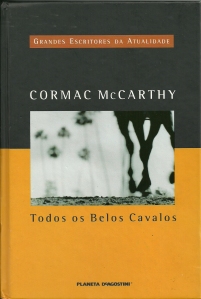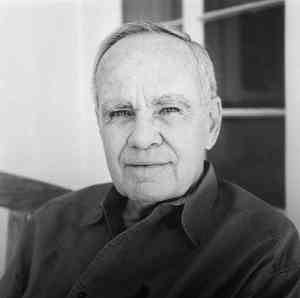Bom dia, amiguinhos, já estou aqui, emendando um prêmio Nobel no outro neste fim de ano maluco de black fridays e adjacentes. O livro de hoje é um calhamaço e, sinto dizer, é o último deste ano resenhado aqui. Não fiquem tristes, porque a razão do recesso não é outra senão a nobre construção de um banco de resenhas que me faz muita falta. É um pouco frustrante para um sujeito que escreve periodicamente sobre livros ter de escolher suas leituras pelo tempo que elas vão consumir, para termos material toda semana, e qualquer um que entenda um mínimo de literatura sabe que isso não pode e não deve ser critério para ninguém, muito menos para um cara como eu, que procuro boas leituras sempre. Ter um banco de resenhas vai me colocar um pouco à frente das minhas postagens do ano que vem (assim espero) e isso vai me possibilitar pegar um livraço vez ou outra sem medo de gastar mais de duas semanas na leitura dele. De modo que entendam e não fiquem tristes por eu não ser uma máquina de ler livros. Tenho meu trabalho, minhas bandas, minha musculação, minhas propagandas de cueca para fazer, então achar tempo para ler um romance aqui fica muito difícil. Eu consigo, mas não com a qualidade que gostaria. Por último, ninguém tem saco pra ficar lendo resenha no fim do ano, já que todo mundo só está pensando em alugar casa na praia, comprar carrinho pras crianças e fazer piada de fim de ano com suas famílias pelancudas. De modo que, no fim das contas, não vai fazer muita diferença mesmo.
Bom dia, amiguinhos, já estou aqui, emendando um prêmio Nobel no outro neste fim de ano maluco de black fridays e adjacentes. O livro de hoje é um calhamaço e, sinto dizer, é o último deste ano resenhado aqui. Não fiquem tristes, porque a razão do recesso não é outra senão a nobre construção de um banco de resenhas que me faz muita falta. É um pouco frustrante para um sujeito que escreve periodicamente sobre livros ter de escolher suas leituras pelo tempo que elas vão consumir, para termos material toda semana, e qualquer um que entenda um mínimo de literatura sabe que isso não pode e não deve ser critério para ninguém, muito menos para um cara como eu, que procuro boas leituras sempre. Ter um banco de resenhas vai me colocar um pouco à frente das minhas postagens do ano que vem (assim espero) e isso vai me possibilitar pegar um livraço vez ou outra sem medo de gastar mais de duas semanas na leitura dele. De modo que entendam e não fiquem tristes por eu não ser uma máquina de ler livros. Tenho meu trabalho, minhas bandas, minha musculação, minhas propagandas de cueca para fazer, então achar tempo para ler um romance aqui fica muito difícil. Eu consigo, mas não com a qualidade que gostaria. Por último, ninguém tem saco pra ficar lendo resenha no fim do ano, já que todo mundo só está pensando em alugar casa na praia, comprar carrinho pras crianças e fazer piada de fim de ano com suas famílias pelancudas. De modo que, no fim das contas, não vai fazer muita diferença mesmo.
Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de Neve. Neve é talvez o romance mais popular do turco Orhan Pamuk, e vocês logo vão sacar o porquê. Pamuk tem essa rara habilidade nos escritores de hoje de prender a atenção do leitor com um livro de qualidade, que não gire somente em torno de ação ou intriga e suspese, embora seja muito verdade que ele comumente se aproprie de elementos policialescos para jogar a primeira isca. Resumir o romance a isso — uma trama policial –, entretanto, é um pecado digno de fazer você queimar no mármore do inferno.
A verdade é que Pamuk escreve sobre as complexidades de ser turco. A dicotomia de ocidente e oriente, de religião e estado, de fundamentalismo e secularismo e o grande dilema — para onde vai a Turquia no mundo globalizado — não estão muito longe da gente, mas vamos por um momento parar de ser paternalista e tentar fazer vocês gostarem de algo só porque a coisa se aproxima da sua realidade. Não! Experimente também o exotismo, experimente se preocupar com questões que não têm nada a ver com você de vez em quando, experimente a compaixão distante. Você vai ver, vai ser legal.
Em Neve, essas questões estão mais presentes do que nunca. O mocinho é Ka, um poeta quase quarentão que, após morar um tempo na Alemanha, vai à diminuta, pobre e esquecida cidade de Kars investigar o suicídio de garotas novinhas que foram obrigadas a descobrir a cabeça para entrar na escola em nome do Estado secular. O suicídio é o pecado-mor do islã, embora você tenda a não acreditar nisso dada a quantidade de homem-bomba que tem por aí, mas acredite, é verdade. Pois bem, o manto, que representa o islã político, representa também a visão descompassada do país com os movimentos sociais que estouram pelo mundo, mas o suicídio continua misterioso justamente por ser um pecado que garotas tão religiosas a ponto de morrer por vergonha do secularismo não cometeriam.
Mas Kars também é a cidade de Ipek, sua paixão de escola, com quem pretende casar. Rá, tem que ter romance, nem só de política um livrão desse sobrevive, não é verdade? Mas é aí que entra a genialidade de Pamuk, que pega o papel passivo da mulher que só faz romance enquanto os homens fazem política e inverte a coisa: os homens são uns bobos apaixonados e as mulheres é que são as políticas por trás de todos os atos que antecedem um golpe de Estado que toma conta de Kars.
 No meio disso tudo, Kars cria poemas como há muito não criava, e tudo se cria a partir da neve, uma constante na narrativa que a cada hora representa uma coisa, mas que, ao fim e ao cabo, é a expressão máxima da existência de Deus tanto em sua perfeição quanto em sua paz serena que acalma e perturba ao mesmo tempo. A neve desperta poemas que parecem surgidos de outro plano, transforma ateus em religiosos, traz o isolamento e pontua a narrativa com a lembrança constante de que Neve é um romance sobre uma vida que busca sentido após quase 40 anos de existência.
No meio disso tudo, Kars cria poemas como há muito não criava, e tudo se cria a partir da neve, uma constante na narrativa que a cada hora representa uma coisa, mas que, ao fim e ao cabo, é a expressão máxima da existência de Deus tanto em sua perfeição quanto em sua paz serena que acalma e perturba ao mesmo tempo. A neve desperta poemas que parecem surgidos de outro plano, transforma ateus em religiosos, traz o isolamento e pontua a narrativa com a lembrança constante de que Neve é um romance sobre uma vida que busca sentido após quase 40 anos de existência.
Personagens memoráveis nesse livro, minha gente. Sendar bei, o jornalista que publica notícias que ainda vão acontecer e que não acredita no que escreve; Azul, o terrorista clandestino que tem verdadeiro amor por sua própria imagem de terrorista; e Fazil (i sem pingo aqui, não sei qual é o significado,mas acho maneiro), o estudante que às vezes acredita demais no etéreo, e às vezes não acredita em absolutamente nada. Todos eles, de alguma forma, representam a personalidade esquizofrênica da Turquia, já comentada antes. O resto é história, e a história deve ser lida e não contada num blog mequetrefe que nem funciona direito em dezembro.
Ah, esqueci de dizer uma coisa. O narrador da história também é um escritor chamado Orhan, que também é escritor. É engraçado como o Orhan da história se mistura ao escritor Orhan Pamuk, que às vezes não sabe do que não viu e às vezes é onisciente o bastante para saber os detalhes mais íntimos de momentos insignificante da vida de Kars, de quem é amigo. Um bom joguinho é tentar descobrir qual Orhan narra qual capítulo, mas isso é só pros nerdões de plantão.
O livro é um livrão, em formato grande mesmo, da Companhia das Letras. Tem o selinho do Nobel que encarece tudo e uma foto maravilhosa na capa. Comprei esse pra digníssima num sebo em que entramos para escapar da chuva e ele estava praticamente intacto pela bagatela de 20 dilmas, mas ainda tem bastante desses nas lojas por aí, então não se preocupem. Fonte Electra e papel pólen pra dar aquela suavizada no material. Resumindo, o tipo de livro que é difícil largar.
Relaxa que ainda boto mais um post aqui de fim de ano falando de mais coisas. Semana que vem ainda tem mais!
Comentário final: 482 páginas de puro calibre turco. Maktub.