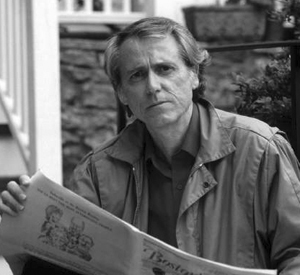Ih, são dez horas da noite, eu saí de casa pra ver a luta na televisão e esqueci de escrever pro blog de novo. Peraí, de novo não, da outra ocasião eu não escrevi porque a vida tá difícil mesmo, e eu espero que vocês me perdoem e me entendam. Bom, felizmente dessa vez o meu camarada Lucas Lazzaretti emprestou-me o seu laptop para que eu digite essas rápidas linhas enquanto tento encontrar um acento e outro nesse teclado maluco. Por isso hoje vou ser breve, cumpri tabela e fazer algo que eu não faço há muito tempo, que é meter o malho num livro.
Ih, são dez horas da noite, eu saí de casa pra ver a luta na televisão e esqueci de escrever pro blog de novo. Peraí, de novo não, da outra ocasião eu não escrevi porque a vida tá difícil mesmo, e eu espero que vocês me perdoem e me entendam. Bom, felizmente dessa vez o meu camarada Lucas Lazzaretti emprestou-me o seu laptop para que eu digite essas rápidas linhas enquanto tento encontrar um acento e outro nesse teclado maluco. Por isso hoje vou ser breve, cumpri tabela e fazer algo que eu não faço há muito tempo, que é meter o malho num livro.
Por isso, vamos lá. De cabeça falo hoje de Um grito de amor do centro do mundo, do Kyoichi Katayama, um livrim meia boca demais que eu quis ler pra saber que cara tinha um best-seller japonês. Achei que, por ser do Japão, esse povo tão sofrido que hoje estamos homenageando aqui, pudesse ser um best-seller melhor que os dos outros países. Como é o caso do Michel Houellebecq na França por exemplo (e não vamos falar de Marc Levy aqui, pelo amor dos meus bagos). Houellebecq vendeu meio milhão de cópias com seu penúltimo livro, A Possibilidade de uma Ilha, que um dia eu resenho. Isso se meus números estão atualizados. Bom, o Katayama vendeu nada mais nada menos do que 3,5 milhões de cópias no Japão. Isso num país que é uma tripinha menor que o Chile. Quero ver um livro vender isso aqui no Brasil. Nem Laurentino Gomes, amigo. Bom, daí que imaginei que o livro talvez fosse um desses petardos que teria a sorte de ser mais vendável do que rosa branca de iemanjá no ano novo. Mas, amigos, me enganei. Mea culpa, mea maxima culpa.
Um grito de amor no centro do mundo conta a história de Sakuratô e Aki, um menino e uma menina, repectivamente, que se apaixonam na escola ainda, mas tempos depois ela descobre que está com leucemia e morre (não se preocupe, não contei nenhum spoiler). Putz, me digam: quantos Chick Flicks vocês já viram com um roteiro como esse, com algumas váriáveis, como idade e qual dos dois tem câncer? O cara já começou mal, ou seja, explorando um tema mais batido que músculo antes de ir pra panela. Mas bom, quem ainda não está cansado de ler sobre isso, e quer achar um ticket fácil pra avenida do choro, o livro pode ser uma boa. Só que, se a história não é muito original, a forma não é muito inovadora também. Uma escrita beeeem mela cueca, cheia dos sentimentalismos baratos e formas muito usadas. Coisas como “a vida é triste, como as folhas das árvores caindo num outono frio” etc. Já falei que existem frases que me fazem levantar da cadeira e querer gritar “gol!”. Pois esse tipo de coisa me dá vontade de levantar e xingar a mãe do juiz.
 Tá, exagerei um pouco, mas faz parte da crítica ser impiedoso com o livro pra depois dar uma levantada na moral do livro. Isso quando o crítico não é cruel, como eu não sou. Quando o cabra é cruel, ele faz o contrário: levanta um pouquinho a bola e depois enterra todo mundo. Bom, o livro não é desagradável de ler, a verdade é essa. E é curtinho, não atrapalha o cronograma de ninguém e pode ser uma boa leitura pra você levar pra praia e ler embaixo de um belo guarda-sol. São 155 páginas, afinal, não machuca ninguém. E vá lá, quem sabe você se emociona. Ah sim, o título do livro faz uma menção ao livro do Harlan Elisson “Crying out love in the center of the world”. O Murakami também faz menção no título do livro dele que eu resenhei, né? Que cambada de japa referente!
Tá, exagerei um pouco, mas faz parte da crítica ser impiedoso com o livro pra depois dar uma levantada na moral do livro. Isso quando o crítico não é cruel, como eu não sou. Quando o cabra é cruel, ele faz o contrário: levanta um pouquinho a bola e depois enterra todo mundo. Bom, o livro não é desagradável de ler, a verdade é essa. E é curtinho, não atrapalha o cronograma de ninguém e pode ser uma boa leitura pra você levar pra praia e ler embaixo de um belo guarda-sol. São 155 páginas, afinal, não machuca ninguém. E vá lá, quem sabe você se emociona. Ah sim, o título do livro faz uma menção ao livro do Harlan Elisson “Crying out love in the center of the world”. O Murakami também faz menção no título do livro dele que eu resenhei, né? Que cambada de japa referente!
Esse projeto gráfico da editora Alfaguara é o bicho ou não é? Alguns me disseram que a japonesinha da capa matou o resto da foto que tem um fundo bacana, mas eu gosto da capa. A tradução foi feita diretamente do japonês por alguém que não vou saber citar de cabeça porque o livro está longe, e o papel tem uma gramatura grande pra parecer que tem mais livro do que na realidade tem. Bom, o projeto deles muda muito pouco. Ainda assim, valeu a intenção da editora de trazer um best-seller que não seja americano ou o nosso inominável Paulo Coelho. É um best-seller? É. Mas pode ser cult? Pode também. Tô parecendo o Kleber Machado? Um pouco. Vamos parar por aí? Sim.
Comentário final: Escrevi o último parágrafo já em casa. Que droga essa luta do Shogun…