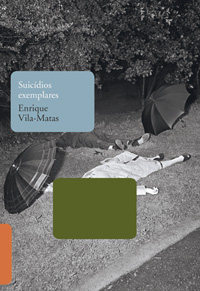E aí, meus amigos, como vão vocês? Sei que hoje é domingo, mas, nesses dias, todos os dias estão sendo domingo pra mim. Estou aqui desfrutando de sombra e água fresca numa praia paradisíaca mas não esqueci de vir aqui. Vê se pode. Bom, hoje também é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, um dos esportes mais chatos que já inventaram na história da humanidade. Por isso queria mandar um oi muito especial para quem se descambou pra Sumpaulo, pagou quatrocentos reais pra ficar surdo e ficar virando a cabeça de um lado pro outro, enfim, saiu da zona de conforto totalmente justificável e vantajosa da poltrona de sua casa pra ver garotos ricos gastando gasolina em plena guerra do petróleo.
E aí, meus amigos, como vão vocês? Sei que hoje é domingo, mas, nesses dias, todos os dias estão sendo domingo pra mim. Estou aqui desfrutando de sombra e água fresca numa praia paradisíaca mas não esqueci de vir aqui. Vê se pode. Bom, hoje também é o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, um dos esportes mais chatos que já inventaram na história da humanidade. Por isso queria mandar um oi muito especial para quem se descambou pra Sumpaulo, pagou quatrocentos reais pra ficar surdo e ficar virando a cabeça de um lado pro outro, enfim, saiu da zona de conforto totalmente justificável e vantajosa da poltrona de sua casa pra ver garotos ricos gastando gasolina em plena guerra do petróleo.
No último post, sobre o Dia da Coruja, nosso amigo Lucas comentou (aliás, os comentários estão rareando. Seria hora de uma nova promoção?) que não conhecemos os escritores italianos como deveríamos. Por isso resolvi falar aqui do Italo Calvino (de novo! e, por favor, vamos tratar de esquecer que ele nasceu em Cuba, ok?), porque se não somos lá muito íntimo dessa turma que curte um rondelli e uma mina gordinha, podemos bater no peito e dizer com orgulho que O Barão nas Árvores é figurinha carimbada na estante da galera. Isso porque tá pra nascer quem não goste desse livro emocionante, maravilhoso, estrogonoficamente sensível e inoxidável, segundo volume da trilogia Os Nossos Antepassados, que ainda contam com O Cavaleiro Inexistente (já resenhado aqui) e O Visconde Partido ao Meio (quem sabe um dia). Fala sério, vocês aí que não curtem unanimidades, não é por nada não, mas esse aqui é o novo Pequeno Príncipe, e eu sonho com os dias em que as belíssimas candidatas a miss universo citarão essa obra ao invés da outra, do Saint-Exupéry.
Pra quem não sabe, vou contar um pouco da historinha. Mas depois, vergonha na cara e dinheiro na mão, vá gastar um pouco do dinheiro que você despenderia com goró e compre um novo clássico. Bom, o barão nas árvores a que o título se refere é o protagonista do livro. E você achando que era uma referência abstrata a algo que não existe, do tipo “A Bruxa de Blair 2 – O Livro das Sombras”, no qual você descobre todo desapontado após duas horas, que não tem bruxa nem livro nenhum no filme. Trata-se do barão Cosme Chuvasco de Rondó, que, em um belo dia, resolve dar um piti infectado na mesa do jantar e renegar a grana do papai, o barão de Rondó. Daí, resolve subir numa árvore e passar o resto de sua vida empoleirado, acho que para não botar os pés nas terras do pai e nas terras de mais ninguém, mas vai saber. E resolve viver uma vida contributiva, inventando coisas que melhorem o seu conforto nas copas, coletando e compilando conhecimento e filosofia. Arruma até mesmo uma esposa e um cachorrinho, que se chama Ótimo Máximo e que, dentro da minha concepção, é um nome bem aceitável para um canídeo.
 Acho que o Calvino quis mostrar com esse livro é como a vida pode ser vivida do jeito que se desejar, e que, independente da vida que levamos hoje e do ambiente em que nascemos, é sempre possível dar um salto para a originalidade e para a auto-realização, mesmo que isso signifique ser confundido com um muriqui de vez em quando. A história é narrada a partir do caçula do barão, que tem um olhar muito apaixonado e, ao mesmo tempo, distante e amargurado por não poder estar próximo do irmãozão. Isso aí foi a maior malandragem do autor, porque aí é facinho se emocionar junto com a narrativa.
Acho que o Calvino quis mostrar com esse livro é como a vida pode ser vivida do jeito que se desejar, e que, independente da vida que levamos hoje e do ambiente em que nascemos, é sempre possível dar um salto para a originalidade e para a auto-realização, mesmo que isso signifique ser confundido com um muriqui de vez em quando. A história é narrada a partir do caçula do barão, que tem um olhar muito apaixonado e, ao mesmo tempo, distante e amargurado por não poder estar próximo do irmãozão. Isso aí foi a maior malandragem do autor, porque aí é facinho se emocionar junto com a narrativa.
O Barão nas Árvores mescla direitinho as duas facetas do autor: a fantástica, fantasiosa e emocionante, que é muito legal, e a realista, que é chatona (sério, não gosto dos livros da primeira fase dele). E, curiosamente, o lado fantástico arrastou suas razões para o livro. São totalmente imaginativas, porém plausíveis, as maneiras que ele inventa para fazer com que seu protagonista viva em cima das árvores. Engenhoso sim, mirabolante não. Pensem nisso.
De todos os livros da coleção do Italo Calvino lançado pela Companhia das Letras, esse é um dos mais bonitos, na minha humilde opinião. Embora seja “azul incomodante número 3”, tom do qual a Carlinha não gosta, mas ficou muito bonito, mais do que o “azul incomodante número 5” do Assunto Encerrado, coletânea de ensaios dele lançada ano passado. No resto, é igualzinho a todos os outros livros da coleção, com tradução do Nilson Moulin. Aliás, fiz uma constatação: já li todos (ou quase todos) os livros do Calvino traduzidos pelo Moulin. Todos os outros que eu ainda não li estão traduzidos por outras pessoas. Uma dessas coincidências.
Ah sim: O Cordel do Fogo Encantado fez uma música em homenagem a esse livro, prova que ele vai é o novo Pequeno Príncipe, falei?
Comentário final: 256 páginas em papel pólen. Perfeito pra derrubar muriqui dos galhos da sua amendoeira. (brincadeira, hein, Ibama?)