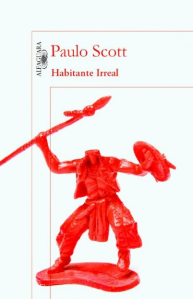Ah, o sabor dos clássicos esquecidos. É como escutar Beatles pela primeira vez: você acha que a descoberta é toda sua e que ela nunca foi feita por ninguém, mas não é bem assim. Aliás, no meu caso, que não gosto de Beatles, não é assim mesmo, de modo que não sei por que diabos abri o texto com essa analogia. Até porque não quero falar de Beatles, quero falar de Hermann Broch, um rapaz que, se pode ser resumido em uma palavra, é esta: gênio. Não me lembro de ter lido algo tão inteligente e afiado nos últimos tempos, e quem lê este nosso espaço com frequência sabe que qualidade é a linha editorial que eu sigo.
Ah, o sabor dos clássicos esquecidos. É como escutar Beatles pela primeira vez: você acha que a descoberta é toda sua e que ela nunca foi feita por ninguém, mas não é bem assim. Aliás, no meu caso, que não gosto de Beatles, não é assim mesmo, de modo que não sei por que diabos abri o texto com essa analogia. Até porque não quero falar de Beatles, quero falar de Hermann Broch, um rapaz que, se pode ser resumido em uma palavra, é esta: gênio. Não me lembro de ter lido algo tão inteligente e afiado nos últimos tempos, e quem lê este nosso espaço com frequência sabe que qualidade é a linha editorial que eu sigo.
Falemos um pouco de Broch antes de falar de seu livro então. O sujeito jogou nas onze em vida. Tocou uma fábrica de fiação e tecelagem dos pais, estudou filosofia, matemática, psicologia e física em Viena, foi judeu e católico, austríaco e americano, perseguido pelos nazistas e festejado pelos modernistas, amigo de Thomas Mann e Albert Einstein, dramaturgo, poeta, ensaísta e ficcionista de primeira. O que mais se pode dizer de um cabra desses? Ah sim, teve uma belíssima estreia nos romances, com a trilogia Os Sonâmbulos, cujo primeiro volume, publicado em 1888, disseco aqui neste dia. Pasenow ou o Romantismo já começa a ser bom pelo título pomposo que traz o “ou”. Esse lance de dar título com “ou” é coisa de gente metida, todo mundo sabe disso. Diferentemente de se colocar um travessão seguido de um subtítulo, como Rambo II – A Missão ou Superbad – É Hoje, o “ou” dá a impressão de que o cara pensou demais no título e simplesmente não conseguiu decidir qual ilustrava melhor sua obra. É o que você pensaria se visse um “Superbad ou É Hoje” ou um “A Bruxa de Blair ou o Livro das Sombras”. Coisa de intelectual, não é? Melhor não meter o bedelho nisso.
Pasenow, o protagonista da história, é um bobalhão conservador que, como qualquer bom conservador que se preze, é militar. Ele acredita no poder do uniforme, acredita que existe uma ordem no mundo regida por suas convenções sentimentais, e ante a mudança dos tempos — a saber, a decadência do império Austro-Húngaro, sabidamente uma má ideia que até que durou demais —se agarra a elas para não ficar tonto com o mundo que não para de girar. Ele tem um coração dividido entre duas damas: a boêmia (boêmia aqui quer dizer que é da Boêmia, não que goste de uma vadiagem, embora nesse caso, excepcionalmente também sirva a segunda conotação) Ruzena, uma prostituta que ele conheceu num cassino alemão, que representa toda o desvio saudável da alma humana, que não foi fabricada sob esse manto de conservadorismo dele, afinal, e Elisabeth, a filha do barão, uma mulher pura, rica, socialmente equânime que representa a tradição como ela deva ser. Para fechar esse quadrângulo amoroso, temos ainda Bertrand, um ex-colega de farda que se tornou um homem de negócios e que atua na melhor tradição shakespeariana manipulando todo mundo por pura maldade como um bom falso amigo. Bertrand faz a caveira de Pasenow pra Ruzena e joga um caô pesado pra Elisabeth num dos diálogos mais brilhantes do livro. Puro ouro literário entre a página 149 e a 155, minha gente. E Pasenow fica lá, que nem um trouxa, balançando de um lado para o outro como manda a vontade do amigo, o qual ele sabe que não presta mas mesmo assim sempre vai lá chorar umas pitangas pra ele quando o bicho pega.
 Pois bem, vamos ver o que podemos adiantar desse livro sem estragar muito a diversão da leitura pra vocês. Por que a trilogia chama os Sonâmbulos e o título alternativo chama O Romantismo? Bom, identificar o sonâmbulo aí não é muito difícil. Pasenow perambula por um mundo completamente diferente do que acredita estar sem nem perceber. Isso é o básico. Mas ele não é qualquer alienado. Ele é um romântico, acredita na farda, na honra e nos valores, o que é algo bem contraditório se você parar para pensar que ele tenta a todo modo rechaçar o que seu coração manda, que é amar Ruzena. Mas os valores românticos de seu coração são os atavismos conservadores aos quais ele custa largar, uma coisa fugaz e insignificante na avaliação de Bertrand. Isso ajuda muito a entender o último capítulo do livro, que é simplesmente matador e, ao contrário do que diz o posfácio, não é um esgotamento do fôlego literário do autor, mas uma sacada genial que te coloca num desespero de botar a mão na cabeça e pensar exatamente o quê, em sua vida, está no piloto automático.
Pois bem, vamos ver o que podemos adiantar desse livro sem estragar muito a diversão da leitura pra vocês. Por que a trilogia chama os Sonâmbulos e o título alternativo chama O Romantismo? Bom, identificar o sonâmbulo aí não é muito difícil. Pasenow perambula por um mundo completamente diferente do que acredita estar sem nem perceber. Isso é o básico. Mas ele não é qualquer alienado. Ele é um romântico, acredita na farda, na honra e nos valores, o que é algo bem contraditório se você parar para pensar que ele tenta a todo modo rechaçar o que seu coração manda, que é amar Ruzena. Mas os valores românticos de seu coração são os atavismos conservadores aos quais ele custa largar, uma coisa fugaz e insignificante na avaliação de Bertrand. Isso ajuda muito a entender o último capítulo do livro, que é simplesmente matador e, ao contrário do que diz o posfácio, não é um esgotamento do fôlego literário do autor, mas uma sacada genial que te coloca num desespero de botar a mão na cabeça e pensar exatamente o quê, em sua vida, está no piloto automático.
O lance do sentimento é resumido em uma frase genial de Bertrand, cuja página perdi, mas que diz algo como “o sentimento do homem é mais grandioso que a vida que o comporta”, e ilustra isso no fato de Voltaire ter convivido com massacres e etc. Em Pasenow, esse sentimento é, de fato, imensamente maior que o personagem, demasiado humano para o seu próprio bem. Mas era exatamente isso que Broch almejava, acho eu. Construir um quadro complexo de mudança de tempos para jogar ali personagens que sabem e que não sabem lidar com isso. Não é a toa que o sujeito ganhou elogios na contracapa de ninguém menos que Thomas Mann. O resto do livro são imputações filosóficas que pode fazer brilhar os olhinhos de quem estuda o lance, mas que pra nós, leigões, fica como uma sintonia fina com as ideias do livro.
A trilogia dos Sonâmbulos foi lançada aqui no Brasil pela Benvirá, em tradução inédita do Marcelo Backes. Ele faz um posfácio bacana sobre o livro e sobre o autor que vale a pena ler. Agora, a Benvirá, meus senhores, é uma editora que está ganhando cada vez mais meu coração pelo calibre dos autores que resolveu publicar. Broch, Faulkner, John dos Passos são alguns dos clássicos, mas tem policial do David Peace, Patricia Highsmith e outras coisas boas que não consigo me lembrar agora. Fiquei surpreso quando vi a Benvirá lançando a trilogia USA (que um dia, se o bom Deus permitir, comento aqui também) e corri atrás de outras preciosidades do catálogo, que também já conta com A Morte de Virgílio, considerada a obra-prima do autor de hoje. O projeto gráfico é ok, mas tem aquelas folhas de jornal, que são leves, secas e amarelam bem rápido, e a capa é uma xilogravura de alguém que não sei quem é porque estou longe do exemplar.
Pasenow ou o romantismo cumpre as seguintes modalidades do Desafio Livrada 2014:
2- Um clássico esquecido da literatura mundial
13- Um volume de alguma trilogia ou série
Comentário Final: 275 páginas em papel de jornal. Livrada no palermão!