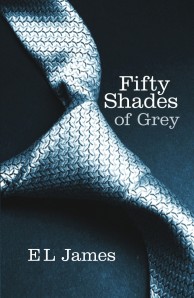O tempo se estreita, a pós-modernidade líquida escorre pelos dedos e daqui a pouco eu tenho que dormir e vou escrever isso o mais rápido possível. Pra galera que acompanha o blog de fora do Brasil, estamos em época de eleições municipais, e amanhã é dia de seguir os queridos candidatos pela cidade para saber que confusões esses diabinhos vão aprontar. E quando eu penso nos candidatos da minha cidade, a única coisa que me consola é lembrar-me de que eu não moro em São Paulo. Paulistanos, me desculpem, mas vocês tem um gosto pra política similar ao seu gosto musical.
O tempo se estreita, a pós-modernidade líquida escorre pelos dedos e daqui a pouco eu tenho que dormir e vou escrever isso o mais rápido possível. Pra galera que acompanha o blog de fora do Brasil, estamos em época de eleições municipais, e amanhã é dia de seguir os queridos candidatos pela cidade para saber que confusões esses diabinhos vão aprontar. E quando eu penso nos candidatos da minha cidade, a única coisa que me consola é lembrar-me de que eu não moro em São Paulo. Paulistanos, me desculpem, mas vocês tem um gosto pra política similar ao seu gosto musical.
Mas não estamos aqui para falar de política, não é verdade? Estamos aqui para falar de coisas agradáveis e edificantes como literatura. Ou, mais especificamente, no caso de hoje, de quadrinhos. Eu só falo de quadrinhos em duas situações limítrofes: a primeira é quando a graphic novel (para usar um outro termo, mais afrescalhado) em questão é muito boa; a segunda, quando tô sem livro pra comentar. Felizmente hoje é o primeiro caso, então regozijem-se (regozijar é um verbo que só dá pra escrever, jamais pronunciar sem enrolar a língua) com as maravilhas da HQ estadunidense Retalhos, do Craig Thompson, um dos livros mais hypados tanto pelos críticos da linguagem quanto pelos meninos que tocam músicas do Charlie Brown Jr no violão, sentados na rampa de skate de seu bairro com uma camiseta suada de três dias.
E quem é Craig Thompson, vocês me perguntariam com a avidez e a curiosidade de quem chega cá por essas paragens cibernéticas para embriagar-se com o doce suco do conhecimento. E o mais bonito da resposta é que ela está contida na própria obra. Thompson fez um quadrinho autobiográfico em que conta trechos da sua infância e episódios da sua adolescência que culminam na descoberta do primeiro amor adolescente. Toda aquela parada de “quinta-série-o-primeiro-beijo-a-primeira-sacanagem”, só que pra ele aconteceu muito mais tarde porque — aí é que tá! — o cara foi criado num ambiente ultra-religioso em que Jesus era quem dava a palavra final nas decisões da família. Pecado original, toda aquela culpa, o rapazote não podia nem desenhar direito e a professorinha da escola dominical dizendo que ele não ia poder nem desenhar no céu, era óbvio que sairia dali uma mente brilhante, já que todo artista tem uma alma torturada (é o boato que corre à boca pequena). Só quando ele já fica maiorzinho, quase terminando a escola, é que conhece Raina, uma menina cristã que frequentava um desses Jesus Camps para os quais ele ia no verão (ou no inverno, sei lá), e que dá pra ele de presente uma colcha de Retalhos, símbolo da devoção e da paciência do primeiro amor.
Nesse amor adolescente reside a beleza e a pureza das respostas das crianças. É num diálogo sincero com o eu do passado que Craig junta as pontas da vida até o momento para chegar à magnífica conclusão de que é justamente quando o amor se mostra em seu estado mais selvagem e arrebatador é que ele é igualmente impotente e castrador. As relações sistólicas e diastólicas de quem, ao mesmo tempo em que sofre com o ameaçador e desconhecido futuro que implica o clássico chute pra fora do ninho, quer drástica e irremediavelmente já ter encontrado uma resposta para endireitar a vida amorosa. Condicionar os primeiros anos da vida adulta a esse amor, mudar-se para um trailer, viver de música, ir morar no Hawaii e tocar guitarra às três da manhã com a vizinhança de cabelo em pé, é esse o tipo de aniquilação da ambição que o amor juvenil causa. Nada mais lindo do que ver um homem sem qualquer projeto de vida a não ser encontrar um cantinho para cutucar o pudim da amada em paz, sem ser incomodado pelas chatices do estilo de vida yuppie.
 Tudo separa Raina de Craig Thompson. A distância geográfica (a mocinha mora em outra cidade, muito longe dele), a abstinência sexual (católicos do meu Brasil: saiba que esse não é um termo negociável do cristianismo. Ou você espera ou você não tem direito de comemorar o natal, foi o que uma autoridade do baixo clero certa vez me falou), a necessidade de instruir-se profissionalmente para trabalhar de sol a sol numa cidade sem sol, tantas outras prioridades de sobrevivência a serem cumpridas antes de gozar do conforto para fornicar, amar, casar. Ai ai, não é fácil ser um jovenzinho. Pra piorar, o autor-protagonista precisava ainda acertar as contas com seu criador, com aquela perda sistemática da fé que acarreta a tomada de consciência das agruras da vida adulta. Os catequistas têm se empenhado agora em não levantar muito as expectativas do pessoal, dizendo que Deus é só amor porque já viram que não dá certo, mas naquela época a coisa era um pouco diferente e o bichinho acuado caiu em si e renegou secretamente sua religião.
Tudo separa Raina de Craig Thompson. A distância geográfica (a mocinha mora em outra cidade, muito longe dele), a abstinência sexual (católicos do meu Brasil: saiba que esse não é um termo negociável do cristianismo. Ou você espera ou você não tem direito de comemorar o natal, foi o que uma autoridade do baixo clero certa vez me falou), a necessidade de instruir-se profissionalmente para trabalhar de sol a sol numa cidade sem sol, tantas outras prioridades de sobrevivência a serem cumpridas antes de gozar do conforto para fornicar, amar, casar. Ai ai, não é fácil ser um jovenzinho. Pra piorar, o autor-protagonista precisava ainda acertar as contas com seu criador, com aquela perda sistemática da fé que acarreta a tomada de consciência das agruras da vida adulta. Os catequistas têm se empenhado agora em não levantar muito as expectativas do pessoal, dizendo que Deus é só amor porque já viram que não dá certo, mas naquela época a coisa era um pouco diferente e o bichinho acuado caiu em si e renegou secretamente sua religião.
Tudo isso me lembra esse vídeo:
Então é basicamente isso, o Retalhos: uma história sobre a descoberta da própria sexualidade, das próprias opiniões, e da tristeza que é envelhecer. O mais legal do livro é a linguagem bíblica com que ele embasa todas as pequenas revelações da sua vida, a narrativa não linear que vai e volta à sua infância (o rapaz foi abusado pelo baby-sitter quando era criança de verdade? Acho muito absurdo como ele cita isso no livro como a maior das trivialidades). Mas é na sinceridade da história que ele ganha o leitor. É incrível como as pessoas querem reinventar a roda em obras autobiográficas quando é um dos poucos gêneros em que existe uma fórmula clara do sucesso: sê sincero e receberás o céu. Foi isso o que o cara fez. Um retrato sincero sobre sua infância, sua juventude, seus medos e seus tesões, tudo, obviamente, num desenho maravilhosamente bem feito, engraçado e comovente ao mesmo tempo. Não é, nem de longe, o quadrinho genial que todos dizem encontrar, mas é uma singela história de vida que pode ganhar um cantinho no coração da galera.
O projeto da Companhia das letras é simples como o desenho de Craig Thompson, preto no branco sem tons de cinza (graças a Deus, ninguém aguenta mais tom de cinza nenhum por essas bandas). A tradução sempre precisa do Érico Assis ajuda na boa leitura da coisa, mas é nas splash pages e nos quadrinhos mudos que a gente percebe a riqueza do traço e dos enquadramentos, da direção artística do autor, se a gente pode dizer assim.
E é isso. Não tenho muito mais a acrescentar. E também não posso, como disse, estou mais em cima da hora que aquele coelho da Alice. Desculpem pela sinceridade e pela brevidade de hoje, espero que não seja um impeditivo para apreciarem a leitura. E a propósito, perdoem e desconsiderem quaisquer erros ortográficos ou de digitação. Ando sem tempo para uma revisão detalhada. Fui!
Comentário final: 592 páginas em papel offset. Finalmente um afundador de crânio de volta a esse site.