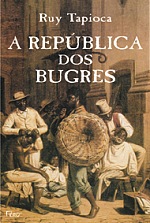“Gente, foi o Rubem Fonseca que escreveu o Seminarista? Esse gajo é velho, hein?” Não é nada disso, ó pá, manezão, esse seminarista não é o mesmo seminarista do Bernardo Guimarães, o manolo que escreveu Escrava Isaura. O seminarista em questão é o último livro do nosso querido Rubem Fonseca. Poderia dizer que é o mais novo livro dele, mas a verdade é que nem é tão novo assim: foi lançado em 2009.
“Gente, foi o Rubem Fonseca que escreveu o Seminarista? Esse gajo é velho, hein?” Não é nada disso, ó pá, manezão, esse seminarista não é o mesmo seminarista do Bernardo Guimarães, o manolo que escreveu Escrava Isaura. O seminarista em questão é o último livro do nosso querido Rubem Fonseca. Poderia dizer que é o mais novo livro dele, mas a verdade é que nem é tão novo assim: foi lançado em 2009.
Bom, alguma consideração sobre o livro antes de adentrarmos em sua história. O Seminarista foi o primeiro livro inédito do autor publicado pela editora Agir. Ele, que até então era publicado pela Companhia das Letras, migrou pra editora nova depois de um rolão envolvendo a publicação de uma autora meio estreante no ramo literário. Mas bom, isso são fofocas de bastidores que aqui não me cabe contar pra não sucitar a violência. Sou um cara da paz e já tô até imaginando as editoras trocando tiro no meio da rua, tal qual Counter Strike naquela fase do Rio de Janeiro. Deixemos isso pra lá. Fato é que Rubão agora é do time da Agir, que está republicando seus livros aos poucos, em edições muito graciosas que comentarei no final.
Vamos ao livro de hoje. O Seminarista conta aquela velha estória do matador profissional que decide largar o osso, e não vê que isso tá errado. Quer dizer, o cara mata um monte de gente durante a vida inteira dele e aí decide parar de matar? Não é justo que uma pessoa tão maldosa assim tenha esse direito, por isso o tenente Aldo Raine faz questão de tatuar uma suástica na testa dos nazistas safados. Enfim, como em qualquer outra estória dessas, aparece uma mocinha inocente e umas pessoas interessadas em assassinar o assassino. Mas José (esse é o nome dele) é um cara sensível: gosta de rock clássico, poesia, literatura, plantinhas, enfim, é uma flor que nasceu do lobo, sem falar que foi seminarista quando mais moço (daí o nome do livro, né, esperto?). Mas, por alguma razão que Rubão não conta pra gente, decidiu fazer o mal e colocar as pessoas pra comer capim pela raiz. “Por quê, tio?” Não interessa pra você, palhaço. Morre, diabo! É inconsistente, incoerente, inconstante, inconstitucionalíssimamente? É. Mas, fazer o que, o cara é consagrado.
 Bom, daí que José fica nessas de ser atormentado, tentando cuidar de sua gatinha, encontrando uns camaradas dos tempos de seminário e matando para não ser morto. Resumindo, uma estória pra lá de original. Gente, o cara teve que pensar muito pra escrever esse livro, hein? Qual vai ser o próximo? Uma mulher que toma um pé na bunda e decide se mudar pra algum país romântico da Europa, onde conhece um europeu forte e musculoso? Bah, fala sério, Rubão, meu rapaz, desde que você achou aquela carteira recheada de dólar você não é mais o mesmo.
Bom, daí que José fica nessas de ser atormentado, tentando cuidar de sua gatinha, encontrando uns camaradas dos tempos de seminário e matando para não ser morto. Resumindo, uma estória pra lá de original. Gente, o cara teve que pensar muito pra escrever esse livro, hein? Qual vai ser o próximo? Uma mulher que toma um pé na bunda e decide se mudar pra algum país romântico da Europa, onde conhece um europeu forte e musculoso? Bah, fala sério, Rubão, meu rapaz, desde que você achou aquela carteira recheada de dólar você não é mais o mesmo.
Melhor é falar do projeto gráfico do livro, porque esse sim é bonito. Margem bem grande, fonte Minion Pro, papel pólen e capas com a mesma disposição de título e nome do autor, e ainda a assinatura dele dentro do quadradinho com o nome da obra. As lombadas são todas brancas e a minha edição ainda veio com um exemplar do conto “A Arte de Andar pelas Ruas do Rio de Janeiro”, bem melhor do que o livro, um conto das antigas e recheados de fotografias iradas sobre a cidade. O livro também tem site, acesse clicando aqui, e veja que no site eles também vendem o livro em versão e-book, para Kindle. Agora, R$19,90 num e-book? Editoras do meu Brasil, não façam as cagadas que a indústria fonográfica fez com o CD. Depois neguinho começa a piratear os livros e vocês não vão gostar. Bora baixar esse preço, né?
Comentário final: Pretty bitch for fun, for fun, for fun.