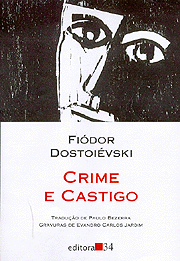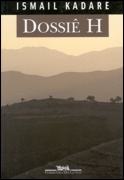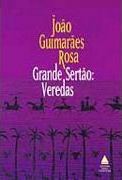Faça aí uma rápida pesquisa, seja no google, seja entre seus amigos. Você vai descobrir que muita, mas muita gente, tem uma opinião formada sobre esse livro. E a razão pela qual isso acontece é que, para muita gente, esse foi o único livro confessável já lido. Ninguém vai sair por aí falando abertamente que leu “Melancia” de Marian Keys ou “A Profecia Celestina”, de James Redfield porque é vergonhoso demais (se não é pra você, melhor rever seus conceitos). Mas O Apanhador no Campo de Centeio, esse sim todo mundo leu e bate no peito pra falar que leu. Se você tem mais de dezoito anos e ainda não leu esse livro, vou dizer que já passou da idade e talvez seja tão legal quanto assistir ao Rei Leão aos quarenta e três anos. O troço vai perder o sentido pra você. Por isso, corra e integre a massa que elevou essa obra à categoria de long-seller (é como alguns editores chamam os best-sellers clássicos).
Faça aí uma rápida pesquisa, seja no google, seja entre seus amigos. Você vai descobrir que muita, mas muita gente, tem uma opinião formada sobre esse livro. E a razão pela qual isso acontece é que, para muita gente, esse foi o único livro confessável já lido. Ninguém vai sair por aí falando abertamente que leu “Melancia” de Marian Keys ou “A Profecia Celestina”, de James Redfield porque é vergonhoso demais (se não é pra você, melhor rever seus conceitos). Mas O Apanhador no Campo de Centeio, esse sim todo mundo leu e bate no peito pra falar que leu. Se você tem mais de dezoito anos e ainda não leu esse livro, vou dizer que já passou da idade e talvez seja tão legal quanto assistir ao Rei Leão aos quarenta e três anos. O troço vai perder o sentido pra você. Por isso, corra e integre a massa que elevou essa obra à categoria de long-seller (é como alguns editores chamam os best-sellers clássicos).
O Apanhador no Campo de Centeio é um desses livros que criam uma ligação direta com o seu íntimo quando você está na adolescência. Em um primeiro momento isso é legal, porque você percebe que mais alguém te entende (e quando você é adolescente ninguém te entende, né?). Mas depois você percebe que todo mundo se identifica com o livro e que você, ao contrário do que você pensava, não era tão diferente assim de todo mundo. O livro conta a história de Holden Caulfield, um menino que deveria estar voltando para casa, pois foi expulso de seu colégio, mas resolve fugir. Nessa viagem acaba descobrindo coisas sobre si próprio e sobre a vida adulta. Nada de muito glamoroso nem sofitsticado. A palavra que melhor define o Apanhador é: singeleza.
Com uma história simples e um personagem cativante, o recém-defundo J.D. Salinger cativa leitores desde 1951 com sua principal obra. Acho que ele ficou tão feliz de ter feito algo assim que nunca mais escreveu nada que preste, e ainda assim manteve a admiração de seus fãs com outros livros, como Franny & Zooey e Nove Histórias, mais fáceis de serem achados aqui no Brasil. “Que injustiça!”, os fãs dos outros dois títulos poderiam pensar, mas olha, é o efeito Kill Bill, não é? Quem gosta de Cães de Aluguel e Pulp Fiction não se importa.
 Agora vamos combinar que, por mais unanimidade que seja, a edição brasileira é pra sentar e chorar. Primeiro que o preço simplesmente não condiz com o projeto gráfico. Uma tal de Editora do Autor, da qual nunca vi mais nenhum livro que não fosse os do Salinger. Um formato estranho de livro (quase quadrado), página offset e o pior: orelhas nas quais não há absolutamente nada escrito. Tava na hora de alguma editora catilogente comprar os direitos desse livro e fazer uma edição bacana. Depois, a própria Editora do Autor “repaginou” a edição, fazendo o quê? Deixando a capa do livro fosca. Uau, agora sim esse livro vale quarenta e cinco reais!
Agora vamos combinar que, por mais unanimidade que seja, a edição brasileira é pra sentar e chorar. Primeiro que o preço simplesmente não condiz com o projeto gráfico. Uma tal de Editora do Autor, da qual nunca vi mais nenhum livro que não fosse os do Salinger. Um formato estranho de livro (quase quadrado), página offset e o pior: orelhas nas quais não há absolutamente nada escrito. Tava na hora de alguma editora catilogente comprar os direitos desse livro e fazer uma edição bacana. Depois, a própria Editora do Autor “repaginou” a edição, fazendo o quê? Deixando a capa do livro fosca. Uau, agora sim esse livro vale quarenta e cinco reais!
Esse foi um dos primeiros livros que eu comprei, e não me arrependo. A leitura foi importante e eu e o Chico até chegamos a filmar um curta experimental à la Glauber Rocha chamado O Apagador no Campo de Centeio, onde tinha um grampeador que fazia o papel de apagador, uma horta de cebolinhas que fazia o papel de campo de centeio e o próprio Chico que fazia o apanhador do apagador no campo de centeio. Pena que não foi pra frente.
Comentário final: 207 páginas offset quadradonas. É como ser atropelado por um fusca: pode não machucar tanto, mas a humilhação de ser atingido por tal porcaria…