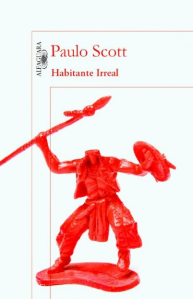Nunca havia lido nenhum livro do Bernardo Carvalho antes, mas não foi por falta de recomendações. Todos me apontavam o moço como sendo um dos mais autênticos escritores brasileiros vivos, e é claro que isso, tendo em vista o nivelamento por baixo da atual produção nacional, chama a atenção por diversas razões. Aproveitei o lançamento deste Reprodução para me inteirar sobre sua obra, e antes que alguém diga, não, não acho que seja de todo mal começar a ler um autor badalado pelo seu último livro. Acho até melhor, já que, enquanto todos os outros já estão devidamente colocados no ranking nacional, este ainda está tendo sua avaliação tecida pelos muitos leitores que formam, juntos, a opinião geral sobre a obra. Aqui não ficarei contra ou a favor da maioria das vozes até que o tempo o diga. E desde já, adianto: não achei esse livro grande coisa.
Nunca havia lido nenhum livro do Bernardo Carvalho antes, mas não foi por falta de recomendações. Todos me apontavam o moço como sendo um dos mais autênticos escritores brasileiros vivos, e é claro que isso, tendo em vista o nivelamento por baixo da atual produção nacional, chama a atenção por diversas razões. Aproveitei o lançamento deste Reprodução para me inteirar sobre sua obra, e antes que alguém diga, não, não acho que seja de todo mal começar a ler um autor badalado pelo seu último livro. Acho até melhor, já que, enquanto todos os outros já estão devidamente colocados no ranking nacional, este ainda está tendo sua avaliação tecida pelos muitos leitores que formam, juntos, a opinião geral sobre a obra. Aqui não ficarei contra ou a favor da maioria das vozes até que o tempo o diga. E desde já, adianto: não achei esse livro grande coisa.
Ainda que o estilo literário dele seja bem fluído e bem intencionado, a história – ou melhor, o subtexto que aponta com exatidão o tipo de pessoa de quem o autor deseja caçoar nesse romance – é meio irritante. O lance é o seguinte: temos em primeiro plano, um estudante de chinês, de idade indefinida, que é o estereótipo do neocon virtual. Segundo o próprio, ele “lê blogs, colunistas, gente letrada”, e está convencidíssimo de que os chineses vão dominar tudo um dia, e é exatamente por isso é que ele estuda a língua há seis anos: quando eles chegarem, o sujeito vai estar por cima da carne seca e vai ser membro de uma elite cultural acima da gentalha ocidental. Ou seja, o pacote completo. Agora, o que nós já aprendemos sobre personagens estereotipados na literatura, crianças? É, se fosse coadjuvante ainda passava, mas é com esse mala pleno que você vai passar as próximas 160 páginas. Em segundo plano, temos uma trama de tráfico internacional de drogas ou de pessoas, não sabemos ainda, e eis que a polícia federal prende o sujeito na fila do check-in porque ele encontra nessa mesma fila uma ex-professora de chinês dele que fala alguma coisa em chinês e isso é motivo para trancar o cidadão naquela salinha chata com duas cadeiras, uma mesa e um bebedouro velho (os detalhes da salinha são por minha conta, acreditem). Começa aí um extenso monólogo do estudante de chinês em que ele desfia suas opiniões e suas ideias a respeito do Brasil, da China e dos chineses, e basicamente sobre o que mais vier à cabeça, levando em consideração que uma das peculiaridades desse sujeito tão minuciosamente escrachado é justamente ter opinião sobre tudo.
O enredo existe para além do monólogo, mas entregá-lo aqui seria maldade, e eu evito fazer maldade inclusive com livros de que não gostei. O que posso dizer é que existe uma trama policialesca na história que está emaranhada no discurso dos personagens – no caso, o estudante de chinês e uma delegada que monologa durante todo o segundo capítulo. E isso até que é bem interessante! Mas veja que Reprodução é um livro que se concentra nos detalhes e é destruído por outros detalhes que passam enviesados pelos primeiros detalhes.
Acho que o ponto crucial é mesmo o protagonista. É enjoativo de tão manjado. É um Almeidinha que dura 160 páginas. E destrinchar o neocon por um artigo irônico – ou mesmo numa série, como o faz o Matheus Pichonelli, é uma coisa. Agora sentar a bunda na cadeira por duas horas durante, sei lá, oito meses, para tirar sarro desse tipo de gente chega a ser triste. provavelmente uma vingancinha do pipoqueiro da qual ninguém estava necessariamente esperando participar. E mesmo assim, não dá pra dizer que o autor domina exatamente o estilo do “comentarista anônimo de internet”, como ele descreve. Um exemplo é o fato dele ficar falando “curti”, como as pessoas fazem o “curtir” no Facebook. Cara, ninguém fala isso na vida real. Mas tudo bem, não vou ficar aqui discutindo minúcias, só tava exemplificando.
Mesmo assim, se a literatura é mais perene que o jornalismo – e certamente mais que o jornalismo opinativo – Reprodução há de ficar bem como um retrato de nossos dias e de nossos malas. Só espero que a coisa não chegue tão distorcida no futuro. E pra um romance que é basicamente dois grandes monólogos, devo dizer que o sujeito consegue ser não-cansativo (e repare bem na minha escolha de palavras aqui). Mas o pior de tudo é que é possível entrever, nas bem traçadas linhas de um livro meia-boca, que o cara é bom, mas não estava em seu melhor momento. Sei lá, talvez tenha deixado a picuinha prevalecer sobre a boa literatura, talvez seja a conjunção dos planetas ou uma dor de dente que deixou o cara meio abalado. Apesar de não ter lido mais nada dele, tenho a leve impressão de que esse é um livro marromenos numa carreira sólida. Nem sempre a gente acerta, afinal.
Comentário final: 168 páginas em papel pólen soft de alta gramatura. Nǐ hǎo.