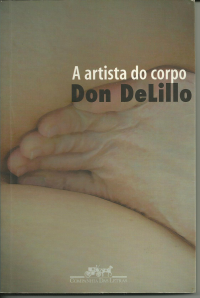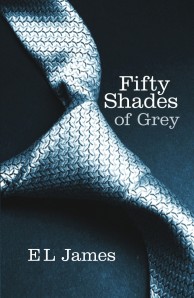Livraded!, your personal high-literature website is back, oh yeah! Ainda estamos em janeiro, e qualquer resolução de ano novo que seja abandonada ainda em janeiro não é digna de nota, digo eu. Pois bem, prometi a mim mesmo dedicar mais miolos a encher esse recôndito culto da internet de abobrinhas criadas a partir de leituras cada vez menos esporádicas, e é isso que pretendo fazer nessa bela segunda-feira de sol (na verdade, como estou escrevendo isso no domingo, não sei se vai ter sol, mas espero que em algum lugar do mundo em que haja um leitor, isso seja verdade).
Livraded!, your personal high-literature website is back, oh yeah! Ainda estamos em janeiro, e qualquer resolução de ano novo que seja abandonada ainda em janeiro não é digna de nota, digo eu. Pois bem, prometi a mim mesmo dedicar mais miolos a encher esse recôndito culto da internet de abobrinhas criadas a partir de leituras cada vez menos esporádicas, e é isso que pretendo fazer nessa bela segunda-feira de sol (na verdade, como estou escrevendo isso no domingo, não sei se vai ter sol, mas espero que em algum lugar do mundo em que haja um leitor, isso seja verdade).
E hoje, por que não, um daqueles livros grandes o bastante para validar o apodo deste humilde blog que, por força das circunstâncias, mergulhou em um período de fast-pace mais relacionado às poucas páginas de seus títulos do que propriamente a fugacidade de seu conteúdo. Irmãos, de Yu Hua, é a bola da vez. Sim, meus amigos, esse chinês com vocação para escrever as piores desgraças infligidas a humanos por humanos é a minha grande descoberta literária do ano passado. Descobri sozinho, sem ler uma resenha, receber uma indicação ou saber qualquer coisa a seu respeito. Um desses livros que a gente pega por força da curiosidade, o Crônicas de um Vendedor de Sangue foi o primeiro, e agora já posso dizer que conheço toda a obra do sujeito publicada em português. Infelizmente, isso não é um título muito impressionante se levarmos em consideração que se tratam de apenas três livros traduzidos até o momento, mas há um agravante na pancada amortecida se considerarmos que Irmãos é gigantesco: nada menos do que 630 páginas. Qualquer livro com mais de 400 páginas para mim é considerado grande, e qualquer um com mais de 550 é considerado muito grande. E para você, o que é um livro grande para você?
Mas falemos do Irmãos. Bom, a tara do tal Yu Hua, que já comentamos por aqui antes no tristíssimo Viver, são os romances de formação. Os três livros publicados no Brasil tratam da vida de sujeitos fadados ao miserê desde o nascimento até a sepultura. Que ele consiga fazer isso em duzentas e tantas páginas como no livro supracitado é admirável, mas que ele consiga estender para um mega romance como esse é fodástico, principalmente se a gente se lembrar que o estilo dele é calcado majoritariamente em ação. Ação, ação, ação, com pouquíssimo tempo para analisar, cheirar as rosas, contemplar as belezas ou se lançar a qualquer lampejo poético entre atos. A imaginação dele é invejável, digo isso do alto de quem sempre desprezou justamente essa qualidade em romances fantasiosos como As Crônicas de Gelo e Fogo. Há uma diferença clara de quando se faz isso num mundo em que não se conhece de quando se faz isso num mundo em que se conhece demais. Enquanto o primeiro é brecha para glitches mal-feitos, o segundo é o claro objetivo de se descrever aquele universo por meio de seus personagens.
E é exatamente a isso que Irmãos se propõe. Os irmãos do título são Li Carequinha e Song Gang, na verdade meio irmãos. Enquanto o primeiro é filho da sofrida Li Lan, o segundo é filho do bonitão e basqueteiro Song Fanping, que se casam depois que seus respectivos cônjuges morrem – algo escandaloso para a época pré- Revolução Cultural, diga-se de passagem. Li Carequinha é safadão, gaiato e arrogante, enquanto Song Fanping é subserviente, nobre e correto em todos os sentidos. E basicamente é isso o que se precisa saber sobre os dois personagens principais da história. Isso porque Irmãos não é a história de Song Gang e Li Carequinha, mas a história da China, da Revolução Cultural à abertura econômica, e nada melhor para detalhar a saga de tão grandioso e complexo país quanto personagens voláteis com espíritos rígidos à sua própria forma. A China de Mao, que se escandaliza quando Li Carequinha é pego espiando bundas no banheiro público na pequena e ficcional cidade de Liu, é diferente da China de Jiang Zemin, que realiza as Olimpíadas do Hímen, ou Concurso Nacional da Beleza Virginal. A China das bugigangas falsificadas, dos acordos com o Japão, das novelas coreanas, da indústria das cirurgias plásticas, é um universo completamente diferente daquela outra, comunista, que massacrou pessoas em sessões de crítica e autocrítica. Basicamente é essa a passagem que o livro conta, e como as personalidades de Li Carequinha e Song Gang encontram seus lugares em cada uma delas.
 Não há, aqui, um resumo que eu possa dar sem que incorra nos tais spoilers que resultam em uma enxurrada de hatemail que recebo, e nem que comporte a magnitude das ações que se desenrolam ao longo das centenas de páginas de Irmãos. O que podemos dizer é que, órfãos desde que Song Fanping é espancado até a morte na rodoviária da cidade, a primeira metade da vida dos irmãos é de uma tristeza sem fim, compartilhada com outros personagens recorrentes no livro e, tais como eles, desprovidos de qualquer profundidade. Tanto é que o nome deles já denota tudo o que podem ser na história: Zhang Alfaiate, Yu Boticão, o dentista, Wang Picolé, o sorveteiro, Tong Torquesão, o ferreiro, e Guan Tesourão, o amolador de tesouras. Somam-se a eles Su Mamãe e Su Mocinha, donas da lanchonete, e Lin Hong, a beldade do vilarejo a quem Li Carequinha espia, o que lhe garante pratos de macarrão especial em troca da descrição da bunda mais bonita da cidade, para fazer menção a uma infame banda da minha cidade. E, claro, uma trupe de personagens não estaria completa sem os dois panacas Liu Escritor e Zhao Poeta, os chamados Talentos Promissores da Cidade de Liu. Pronto, está montado o palco para a comédia da miséria humana.
Não há, aqui, um resumo que eu possa dar sem que incorra nos tais spoilers que resultam em uma enxurrada de hatemail que recebo, e nem que comporte a magnitude das ações que se desenrolam ao longo das centenas de páginas de Irmãos. O que podemos dizer é que, órfãos desde que Song Fanping é espancado até a morte na rodoviária da cidade, a primeira metade da vida dos irmãos é de uma tristeza sem fim, compartilhada com outros personagens recorrentes no livro e, tais como eles, desprovidos de qualquer profundidade. Tanto é que o nome deles já denota tudo o que podem ser na história: Zhang Alfaiate, Yu Boticão, o dentista, Wang Picolé, o sorveteiro, Tong Torquesão, o ferreiro, e Guan Tesourão, o amolador de tesouras. Somam-se a eles Su Mamãe e Su Mocinha, donas da lanchonete, e Lin Hong, a beldade do vilarejo a quem Li Carequinha espia, o que lhe garante pratos de macarrão especial em troca da descrição da bunda mais bonita da cidade, para fazer menção a uma infame banda da minha cidade. E, claro, uma trupe de personagens não estaria completa sem os dois panacas Liu Escritor e Zhao Poeta, os chamados Talentos Promissores da Cidade de Liu. Pronto, está montado o palco para a comédia da miséria humana.
Estranhamente, a segunda parte do livro revela uma veia cômica de Yu Hua pouco explorada em seus outros romances. A coisa fica realmente engraçada, embora, de certa forma, nunca deixe de ser triste. Piadas de humor negro com retardados mentais, aleijados, mudos, cegos e surdos, charlatões, falsas virgens, pensamentos tacanhos e outras ignorâncias de um país que se viu obrigado a espertar-se diante de um mundo que se abriu de uma hora para outra tornam o livro muito mais leve, coisa que não imaginaria depois de uma avalanches de socos na boca do estômago que esse livro te dá nas primeiras duzentas páginas. Pensando bem, poucos aguentariam uma dose dessas por mais 400 páginas…
Ainda sobre os apelidos, é engraçado pensar que apenas Song Gang e Song Fanping são os personagens sem apelidos em Irmãos. Eles e as mulheres Li Lan e Lin Hong. Acho que o china quis atestar a nobreza de seus dois personagens mais queridos, que não se dobram ante piadas e apelidos, apenas quando seus destinos mudam a coisa também muda de figura. Pensem nisso se um dia estiverem com esse livro em mãos, tal informação pode ser crucial para o entendimento dele, mas sobre esse assunto nem mais uma palavra sob o risco de jogar mais spoilers sobre essa casca dura de leitores impiedosos de internet.
No final, a gente vê que não é só porque um livro não é cheio das floreações poéticas, análises psicológicas e vida interior rica que ele é ruim. Pelo contrário, o fato de Irmãos ser recheado só de ações o aproxima da tradição teatral das grandes tragédias e dá substância ao material de que a vida é composta sem oferecer o substrato mastigadinho pro leitor preguiçosão. Certeza que esse é um dos livros mais legais que já li, e é difícil que alguém não sinta a mesma coisa depois de se envolver tão intensamente com uma longa história como essa. Tirem a prova e me digam: o que há para se não gostar nesse livro? Até a superficialidade dos personagens é adoravelmente cômica, o sujeito não deixa margem pra você criticar sem parecer um metidinho rancoroso que não come ninguém. Recomendo.
Por último, uma ressalva a essa edição da Companhia das Letras: por mais que o livro seja muito bonito e tudo mais, é um absurdo fazer uma edição que pesa um quilo com uma capa de papel cartão, que corre o risco de quebrar a qualquer hora com o peso das páginas seguradas. Cuidado com isso quando lê-lo.
Comentário final: 630 páginas. A saudosa fratura exposa e afundamento de crânio estão de volta, dessa vez para ficar!