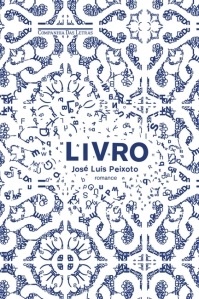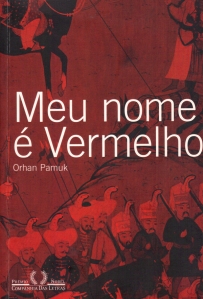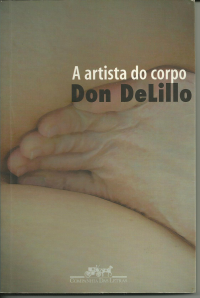Vou ser bem sincero aqui e dizer que há tempos nada me anima muito na literatura brasileira. Acho que o pessoal se perde muito nas próprias veleidades estilísticas e o resultado é uma punhetação literária, a versão escrita de um disco do Yngwie Malmsteem. E levante a mão aqui quem é que curte o Malmsteem de verdade? Ou isso ou a minha visão do que é boa literatura anda muito limitada, mas o fato é que a comparação com os portugueses sempre é inevitável, e isso dá uma medida do quanto estamos ficando pra trás nesse lance de escrever bons livros. É claro, vez ou outra aparece um cara bom que me diverte, mas nada que me cause a catarse de ler um livrasso. Isso até conhecer a obra da carioca Elvira Vigna. E agora para os babaquinhas da objetividade, um alerta: tem spoiler, e se você acha que isso estraga o prazer de uma boa leitura, lo siento.
Vou ser bem sincero aqui e dizer que há tempos nada me anima muito na literatura brasileira. Acho que o pessoal se perde muito nas próprias veleidades estilísticas e o resultado é uma punhetação literária, a versão escrita de um disco do Yngwie Malmsteem. E levante a mão aqui quem é que curte o Malmsteem de verdade? Ou isso ou a minha visão do que é boa literatura anda muito limitada, mas o fato é que a comparação com os portugueses sempre é inevitável, e isso dá uma medida do quanto estamos ficando pra trás nesse lance de escrever bons livros. É claro, vez ou outra aparece um cara bom que me diverte, mas nada que me cause a catarse de ler um livrasso. Isso até conhecer a obra da carioca Elvira Vigna. E agora para os babaquinhas da objetividade, um alerta: tem spoiler, e se você acha que isso estraga o prazer de uma boa leitura, lo siento.
De Vigna, só li, por enquanto, Nada a Dizer, mas é claro que pretendo ler mais coisas assim que a grana e o espaço de casa permitir. Vou contar aqui do que o livro se trata e comentá-lo um pouco para ver se minha opinião é partilhada por vocês. Bom, e o que é Nada a Dizer? Felizmente esse é um livro que dá para resumir quando precisar responder a pergunta imbecil “do que fala esse livro?”. Nada a Dizer é um romance que conta a história da traição do ponto de vista da mulher traída. Simples assim, mas não vá ficar achando que isso tá de bom tamanho pra um resumo, fulano. A história é narrada por uma tradutora, de idade já avançada, e esposa do canalhão Paulo, que tem um caso com N. Ahh, adoro personagens cujo nome são reduzidos a uma única e misteriosa letra. É um lance tão Stendhal, tão Marques de Sade, tão francês de rabo preso com a aristocracia local que esse simples nome me remete ao que há de melhor na literatura francófona. A genialidade do livro, entretanto, começa justamente escondendo não N., mas a própria narradora. O início mostra Paulo, que mora em São Paulo, viajando ao Rio de Janeiro para encontrar um amigo e essa sua amante. Apenas no final do capítulo temos consciência de que o narrador que tudo sabe não o sabe porque é narrador, mas porque é a esposa dele, que como toda esposa traída, extorquiu a história do infeliz até a última gota.
A partir daí, a coadjuvante-narradora remonta os passos do sujeito desde que ele começou o caso, analisando o que ela sabia e onde ela estava no tempo e no espaço em cada uma das situações. Porque é óbvio que a mulher precisa escrever um livro com tudo o que ela sabe, e o que é pior: dá mesmo para escrever um livro com tudo o que ela sabe. E tudo gira em torno da questão: se ele me trai, o que eu significo para ele? Não dá pra medir a genialidade da Elvira sua sensibilidade feminina nesse ponto. Todo mundo que já conheceu uma mulher que curte pirar errado nas ideias sabe que é exatamente esse o comportamento. A fulana não quer admitir de frente que levou chapéu de vaca pra casa e procura questões tangentes de aparência equânime à principal pra poder se sentir individual em sua dor, para não se rebaixar a um sentimento tão universal e humilhante quanto aquele. É preciso raciocinar sobre o ocorrido, é preciso ser fria e calculista quando tudo o que se quer é botar vidro moído no feijão. E nessa análise da situação toda o leitor acaba descobrindo mais sobre a personalidade de quem conta: uma mulher aparentemente segura, mas completamente insegura, que cresceu à sombra de personalidades mais fortes, dessas que têm a vida toda planejada pela frente e se frustra enormemente quando as coisas não saem como o planejado, etc, etc, já deu pra pegar o tipo.
 E, enquanto conta, ela faz um mea-culpa para qualquer interlocutor impiedoso que ouse interferir com um insensível “mas tu era cega mermo, hein, filha?”. Ela admite sua cegueira, seu estado de negação, e dentro desse estado de negação reside seu medo, suas expectativas, seu descompasso com a realidade. Ah, que beleza que é esse livro! Desses que você devora em pouquíssimas horas se tiver um sábado preguiçoso pela frente.
E, enquanto conta, ela faz um mea-culpa para qualquer interlocutor impiedoso que ouse interferir com um insensível “mas tu era cega mermo, hein, filha?”. Ela admite sua cegueira, seu estado de negação, e dentro desse estado de negação reside seu medo, suas expectativas, seu descompasso com a realidade. Ah, que beleza que é esse livro! Desses que você devora em pouquíssimas horas se tiver um sábado preguiçoso pela frente.
Mas, ao mesmo tempo, a narradora é extremamente humana com o marido traidor. O sujeito também é típico. Daqueles que prefere evitar o problema a discutir em casa, que gosta de negar mesmo com as calças na mão, que nunca admite o próprio erro a não ser quando o erro já tá documentado em cartório. E ela o ama, e por isso se compadece de seu espírito imaturo, ou pelo menos engana a si mesmo ao se apiedar, e o trata como uma criança, como costuma se fazer nessa hora aquelas que precisam passar por cima da carne seca a qualquer custo. E é, pois, esse jogo de moral, o grande barato do livro. Encontrar otimismo na cagada alheia, não se deixar abalar, tentar ser melhor do que tudo isso, quem nunca?
A capa do livro, embora seja bem bonita, me enganou muito bem com esses dois jovenzinhos sentados num sofá compartilhando um climão. Não é, afinal, uma história de amor imaturo, é uma imaturidade em uma história já amadurecida. Além do que a tipografia usada na capa é compartilhada com a Rachel Cusk, uma escritora americana que, ao que parece, não tem nem um décimo do quilate da Elvira Vigna. Então isso conta contra o projeto gráfico, somado também à mistura abominável de amarelo, salmão e marrom-cocô-de-vegetariano. No mais, por dentro tá tudo certo: papel pólen de alta gramatura, fonte Electra, e o de praxe. Recomendo fortemente pra quem está desacreditado com os autores brasileiros e para quem uma boa dose de realismo é necessária na literatura tupiniquim.
Comentário final: 168 páginas em papel pólen. Machuca o âmago do seu ser.