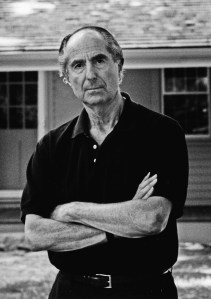Vish, garotada. Passamos o ano inteirinho sem falar do Jorge Luis Borges, mas não foi por mal. Vieram outros autores na frente, mas a estante aqui de casa está sempre reservada para mais livros desse cabra da peste.
Vish, garotada. Passamos o ano inteirinho sem falar do Jorge Luis Borges, mas não foi por mal. Vieram outros autores na frente, mas a estante aqui de casa está sempre reservada para mais livros desse cabra da peste.
Antes de mais nada, novidades! Agora ali do ladinho fiz uma página de recados para lembrar-lhes de suas obrigações cívicas perante este fescenino blog. E já coloquei lá, para começar, o velho lembrete de mandar as fotos de suas estantes. Então, como diz a Eliana, fiquem ligadinhos, ok? E vamos ao que interessa.
Tirou o cavalinho da chuva quem estava esperando, para começar, um comentário sobre Ficções, ou O Aleph. Se vocês repararem na cronologia do blog, frequentemente começo a falar de um autor por um livro, digamos, Lado B. Isso é resquício dos ensinamentos do professor Polaco, que disse para nunca alimentarmos a conversa de buteco dos outros dando a obra mastigada. Então, filhote, quer pagar de inteligente com teus comparsas entre uma Carlsberg e outra? Vá ler Borges por conta própria, é ou não é?
Bom, apesar de tudo, O livro dos seres imaginários, nosso foco de hoje, também é um grande e importante livro do autor. E se você chegou no planeta agora, trata-se de um compêndio sobre seres imaginários extraídos do folclore do mundo ou pensados por outros escritores, como o bicho esquisito da escada que Kafka conta em um de seus contos, acho que tem no Narrativas do Espólio, se não me engano. E é basicamente isso: a cada capítulo, um animal, com as explicações sobre sua origem, suas particularidades e, quem sabe, um pouco da história de sua criação.
Agora vê só como essa raça chamada argentino é: Borges sempre foi na contramão de toda aquela galera caliente latina que escrevia histórias fantasiosas de viajar na maionese bonito. Não que a literatura dele seja pé no chão, muito pelo contrário. Mas é, antes de tudo, na razão em que ele baseia suas excursões pra fora da casinha. Por isso escolhi esse livro. Ele mostra bem o tipo de rato de biblioteca que o Borges foi, e quase todos os contos tem algum embasamento em história ou literatura alheia. Talvez o mais emblemático seja mesmo o famoso Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, por tudo isso que eu disse, mas deixemos pra falar dele uma outra hora.
 O livro dos seres imaginários realmente mexe com a sua cabeça, de ver como as pessoas tem imaginação fértil e você aí, achando que Se eu Fosse Você 2 é o filme mais maluco da história. Talvez o bahamut seja o mais doido que eu tenha visto no livro, mas é difícil dizer, são vários, com nomes estranhíssimos do tipo ‘a bao a qu’ ou ‘abtu e anet’. Alguns já se conhece, outros nem tanto, mas para isso, tá lá o livro do sujeito que, aliás, não é tão fantasioso assim. Nos catálogos do Plínio, o Velho, rapazote naturalista romano que viveu quando os anos só tinham dois dígitos, apareciam muitos bichos que não existiam entre outros, de carne e osso. Acho que o que Borges quis fazer foi pegar o trabalho de Plinio e tirar todos os que já existiam e fazer um compêndio mais completo de seres de mentirinha.
O livro dos seres imaginários realmente mexe com a sua cabeça, de ver como as pessoas tem imaginação fértil e você aí, achando que Se eu Fosse Você 2 é o filme mais maluco da história. Talvez o bahamut seja o mais doido que eu tenha visto no livro, mas é difícil dizer, são vários, com nomes estranhíssimos do tipo ‘a bao a qu’ ou ‘abtu e anet’. Alguns já se conhece, outros nem tanto, mas para isso, tá lá o livro do sujeito que, aliás, não é tão fantasioso assim. Nos catálogos do Plínio, o Velho, rapazote naturalista romano que viveu quando os anos só tinham dois dígitos, apareciam muitos bichos que não existiam entre outros, de carne e osso. Acho que o que Borges quis fazer foi pegar o trabalho de Plinio e tirar todos os que já existiam e fazer um compêndio mais completo de seres de mentirinha.
Esse livro faz parte da Biblioteca Borges que a Companhia das Letras está lançando aos pouquinhos. A Biblioteca Borges é a prova viva de que um bom projeto gráfico alavancam as vendas de um autor. Veja só que até bem pouco tempo atrás, antes da editora começar a lançar os primeiros volumes, a editora Globo tinha dois ou três calhamaços com a obra completa do escritor a um preço ridículo, algo como 30 ou 40 reais cada livro. E ninguém nem tchuns pro negócio até que começou a aparecer esses (e o livro dos seres imaginários foi um dos primeiros títulos lançados). Vish, choveu neguinho pra coçar o bolso e adquirir um exemplar. A ideia deu certo e até hoje a editora está lançando esporadicamente volumes da obra completa do autor, com capas que estampam pinturas que não poderiam ter sido melhor escolhidas para casar com a vibe do argentino. Um troço quadradão, de linhas precisas e cores chapadas. Essa no caso é da artista plástica Judith Lauand, uma simpática senhorinha que gosta desse lance de equilíbrio e ritmo sem formas difusas. Com a dona é pão pão queijo queijo, amigo. A tradução é de Heloísa Jahm, uma tradutora muito da versátil, porque já traduziu do inglês, espanhol, francês, italiano, sueco, enfim, a moça é boa e assina a tradução de obras de Marguerite Duras, Conan Doyle, Julio Verne e Apollinaire. Então, respect! No mais, papel pólen soft e fonte Walbaum, usada na Biblioteca Borges toda.
Comentário final: 218 páginas em pólen soft. Hoje tô sem ideia de comentário final. Mas isso não faz diferença mesmo, né?