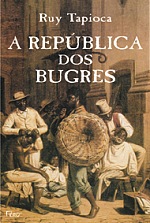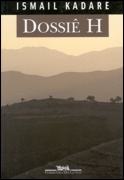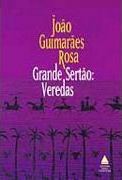Levante a mão quem já leu esse livro. Eu sou a única pessoa que eu conheço que, por enquanto, teve estômago para ler de cabo a rabo os 120 dias de Sodoma, de Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade. Escrito em 1785 em seu encarceramento na Bastilha (foi transferido pra lá depois que o Château de Vincennes foi fechado, em 1784). O Sade é um cara assim meio Edward Bunker, passou quase toda a vida preso, seja por perseguições políticas, seja pelas merdas que ele fez com suas prostitutas (reza uma lenda de que ele teria envenenado duas delas “sem querer” ao ter ministrado “pílulas para peidar”. Ele curtia umas coisas dessas).
Levante a mão quem já leu esse livro. Eu sou a única pessoa que eu conheço que, por enquanto, teve estômago para ler de cabo a rabo os 120 dias de Sodoma, de Donatien Alphonse François de Sade, o Marquês de Sade. Escrito em 1785 em seu encarceramento na Bastilha (foi transferido pra lá depois que o Château de Vincennes foi fechado, em 1784). O Sade é um cara assim meio Edward Bunker, passou quase toda a vida preso, seja por perseguições políticas, seja pelas merdas que ele fez com suas prostitutas (reza uma lenda de que ele teria envenenado duas delas “sem querer” ao ter ministrado “pílulas para peidar”. Ele curtia umas coisas dessas).
Tenho uma “tioria” que atesta que quanto menor o tempo que o escritor leva para escrever sobre um assunto, mais presente o tal assunto está em sua vida. Pois bem: os 120 dias de Sodoma foram escritos em apenas trinta e sete dias. Bom, na verdade, a obra nunca chegou a ser completada, pois, dos cento e vinte dias do enredo, foram narrados apenas trinta. Para o resto ele fez apenas o roteiro e a descrição dos dias. Acontece que depois a Bastilha foi tomada, todo mundo picou a mula de lá e o manuscrito acabou sendo deixado para trás, apenas para ser recuperado anos depois. Foi então que essa hecatombe literária veio ao mundo.
Resumo da ópera: quatro ricaços muito pervertidos que comem as próprias filhas resolvem ir para um castelo na Suíça para passar quatro meses de pura sacanagem. Para isso contratam quatro putas velhas (chamadas “musas”) para narrar suas histórias e quatro amas. Seqüestram oito meninas e oito meninos virgens de idade entre 12 e 15 anos para serem arregaçados e ainda solicitam oito “fodedores”, sujeitos de pirocas enormes para enrabar os amigos (eles são chegados nisso também). A cada mês o nível de perversão aumenta. Começa leve: gente que come cocô, vômito, mija na cara, etc. No segundo mês, as “paixões duplas”: incestos mil e os water sports já mencionados. No terceiro, “paixões criminosas”: gente que sente tesão em furar um olho, arrancar um dente, cortar o dedo. Por último, “paixões assassinas”: galera que só se diverte se matar o parceiro sexual. Claro que quem sofre com isso são as criancinhas, que além de serem todas descabaçadas, ainda são lentamente mutiladas até a morte (vocês devem estar dizendo “Chega! Chega! Chega!”).
 Há uma cena emblemática: Quando uma das musas narra um golden shower e os nobres mandam deitar uma das menininhas virgens na mesa para receber o mijo na cara, a menina diz algo como: “Pelo amor de Deus, senhor, não faça isso comigo senhor. Estou muito triste porque, na ocasião do meu sequestro, meus pais foram assassinados por seus capangas.” Aí um dos ricaços chega pra ela e fala: “Menina, não se atreva a falar de Deus aqui dentro. Se Deus existisse ele não deixaria a gente fazer isso com você.” Acho que essa cena resume o livro. É a crueldade desenfreada, a busca pelo prazer sem ética, tudo o que as pessoas fazem quando saem pro crime nas festinhas e não se preocupam com quem elas estão beijando, só que com uma lupa de aumento brutal que explicita o horror da coisa.
Há uma cena emblemática: Quando uma das musas narra um golden shower e os nobres mandam deitar uma das menininhas virgens na mesa para receber o mijo na cara, a menina diz algo como: “Pelo amor de Deus, senhor, não faça isso comigo senhor. Estou muito triste porque, na ocasião do meu sequestro, meus pais foram assassinados por seus capangas.” Aí um dos ricaços chega pra ela e fala: “Menina, não se atreva a falar de Deus aqui dentro. Se Deus existisse ele não deixaria a gente fazer isso com você.” Acho que essa cena resume o livro. É a crueldade desenfreada, a busca pelo prazer sem ética, tudo o que as pessoas fazem quando saem pro crime nas festinhas e não se preocupam com quem elas estão beijando, só que com uma lupa de aumento brutal que explicita o horror da coisa.
Ganhei esse livro de natal da querida tia Albinha (desconfio que se ela soubesse do que se trata esse livro, ela teria preferido me dar outra coisa) e o li enquanto pedalava bicicletas ergométricas numa masmorra chamada academia de ginástica. O livro é extremamente bem escrito, com uma prosa da era moderna fluída. Gostei mesmo da proposta do livro e recomendo para quem agüentar o rojão.
A edição da Iluminuras é linda pra caralho. Vem com um marcador personalizado preso à orelha (só destacar). Excelente diagramação e o melhor: um dos melhores desenhos de nada menos que Egon Schiele na capa. Acho que todo mundo que desenha curte, ou deveria curtir Schiele porque as poses que ele desenha não são para qualquer um. (falo mais dele se um dia for falar dos Cadernos de Dom Rigoberto). Papel pólen, pra agradar todo mundo e fonte Garamond, que eu acho meio apagada, mas estilosa demais.
Comentário final: 364 páginas em pólen soft. O pessoal do UDR usa esse livro pra estuprar marinheiros (Alcorão é coisa do passado).